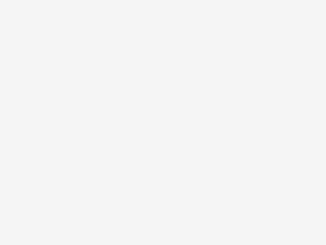Para isso, os pesquisadores armazenam glóbulos brancos e tecidos em que se lêem o genoma das pessoas, que é a informação codificada do DNA.
A idéia não é usá-los para curar doenças do doador – como se faz com as células-tronco recolhidas nos bancos de sangue de cordão umbilical -, mas sim para o combate coletivo das doenças com um entendimento maior dos genes.
“Tem havido uma explosão de bancos biológicos porque a tecnologia é suficientemente barata e é fácil recolher amostras”, afirma Teri Manolio, assessora do Instituto Nacional de Investigação sobre o Genoma Humano dos Estados Unidos.
A China já conta com amostras de 500 mil pessoas. A Islândia já acumulou mais de 200 mil, mesmo com uma população de apenas 320 mil habitantes.
Nos EUA, entidades privadas têm recolhido milhares de amostras e o banco biológico do Reino Unido, lançado com financiamento público, pretende chegar também 500 mil amostras.
Hoje, muitos estudos analisam algum determinante genético para uma doença, porém a vantagem dos bancos biológicos é que não se fixam em um gene em particular.
“Pelo grande número de participantes não só se vêem os vínculos óbvios entre genética e enfermidades, mas também as relações tênues, que indicam os atores moleculares que são responsáveis pelas doenças”, diz Hudson.
Dilema ético – A proliferação dos “biobanks”, no entanto, também tem gerado novos dilemas éticos. A questão principal é quem tem acesso à informação do banco de dados, que inclui a história clínica do doador.
A lei americana apresenta lacunas e em outros países simplesmente não existe, afirma Isaac Kohane, diretor do banco biológico do Children’s Hospital, em Boston.
Não está claro, por exemplo, se a polícia tem o direito de checar as características genéticas de uma pessoa, ou mesmo se o próprio doador deve saber. O genoma pode indicar, por exemplo, a propensão a alguma doença incurável.