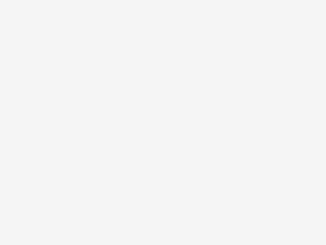Os discípulos de Juan Flores trouxeram o meu tíquete para o mundo espiritual da onça-pintada em um pequeno cálice de plástico. Ele continha la medicina, o ayahuasca, um xarope pardacento resultante do cozimento de folhas de chacruna e cipó-mariri, que depois fora decantado em garrafas usadas de água. No início da cerimônia, o maestro consagrou a bebida, soprando sobre ela a fumaça de uma espécie silvestre de tabaco da Amazônia, o mapacho. Em seguida, passou a encher o cálice, servindo pequenas doses a cada um dos participantes. Sentados sobre esteiras e enrolados em cobertores, ao lado de baldes para o caso de alguém sentir vontade de vomitar, ficamos à espera sob a cobertura de palha da maloca no meio do mato.
Éramos 28 pessoas – vindas dos Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Argentina e Peru. Todos nós estávamos em busca de algo, ali naquela remota localidade na Amazônia peruana, à beira de um estranho rio de águas tão escaldantes que chegam a ser letais, o Fervente. Alguns tinham a esperança de encontrar a cura para moléstias graves; outros buscavam um rumo na vida; e havia também os que apenas queriam vislumbrar um outro mundo – o aspecto mais esotérico daquilo que o zoólogo americano Alan Rabinowitz identifica de forma ampla como o “corredor cultural da onça-pintada”. Esse domínio abrange os hábitats e as rotas migratórias que a organização Panthera, dirigida por Rabinowitz, se empenha em proteger, com o objetivo de assegurar tanto a sobrevivência de uma população estimada em 100 mil onças-pintadas como a vitalidade do patrimônio genético desses animais.
Pequenos morcegos voam entre os sarrafos no teto da maloca. Duas solitárias lâmpadas afastam a escuridão da mata. A poção foi distribuída em silêncio em meio ao incessante rumorejar do rio, em que as colunas de vapor se elevam e se torcem em redemoinhos no fresco ar noturno. Quando os discípulos do “maestro” se aproximam, me ajoelho, sem pensar, talvez por um velho hábito católico ou simplesmente porque os outros estavam fazendo isso. Um dos aprendizes me oferece o cálice, enquanto outro espera ao lado com um copo d’água. Como se estivesse na beirada de um penhasco, hesito um instante, me lembrando do que me havia dito o conhecido curandero Don José Campos, na cidadezinha portuária de Pucallpa, perto dali, alguns dias antes.
“Você não toma o ayahuasca”, resumiu ele. “Ele é que toma você.” Virei o cálice e engoli tudo.
Decidi procurar o maestro Juan Flores, em Mayantuyacu, o centro terapêutico xamânico por ele fundado, nos anos 1990, na expectativa de aprender mais sobre a onça-pintada, ou jaguar, em especial aqueles aspectos do animal que não conseguimos captar com câmeras automáticas. A Pantera onca ocupa o topo da cadeia alimentar dos carnívoros nas Américas. Ao mesmo tempo majestosas e ferozes, as onças são furtivas como nenhum outro animal, movendo-se à vontade nos rios, no chão da selva e na copa das árvores, os olhos luzindo nas trevas com as células do tapetum lucidum das suas retinas adaptadas à visão noturna. Entre os felídeos de grande porte, os jaguares são aqueles que têm, em proporção ao tamanho, a mordida mais poderosa. E, uma exceção entre os grandes felinos, elas mordem o crânio, e não a garganta, das presas, às vezes perfurando o cérebro e causando a morte instantânea das vítimas. O seu rugido gutural e rascante sugere as notas graves da própria força vital.
No entanto, ao longo de milhares de anos, as onças-pintadas levaram uma vida dupla – com uma destacada presença figurativa na arte e na arqueologia das culturas pré-colombianas, que se distribuíam por quase todo o âmbito histórico da espécie, desde a Argentina até o sudoeste dos Estados Unidos. As onças eram veneradas como divindades por olmecas, maias, astecas e incas, que entalharam efígies delas em templos, tronos, alças de vasilhas e colheres feitas de ossos. Imagens de jaguares foram tecidas em xales e mortalhas do povo Chavín, uma civilização que surgiu no Peru por volta de 900 a.C. Algumas tribos amazônicas bebiam o sangue dos felinos, devoravam o seu coração e vestiam a sua pele. Muitas acreditavam que uma pessoa podia virar onça, e que o animal podia se tornar ser humano. Para a tribo Desana, do noroeste da Colômbia, a onça era a manifestação do Sol; para o povo Tucano, do Brasil, o rugido do animal anunciava a chuva. A palavra maia balam designa tanto as onças como os sacerdotes ou feiticeiros. Entre o povo Mojo, da Bolívia, os melhores candidatos para se tornar curandeiros eram aqueles que haviam sobrevivido a um ataque de onça-pintada.
Mesmo nos dias de hoje, quando essa espécie perdeu mais da metade do seu âmbito original, os sinais atuais desse contato ancestral com os seres humanos estão por toda parte. A cada mês de agosto, por exemplo, em uma festa conhecida como Tigrada, moradores da cidade de Chilapa de Alvarez, no sudoeste do México, suplicam ao deus-onça Tepeyollotl que lhes traga chuvas e colheitas abundantes, desfilando pelas ruas com máscaras de onça e fantasias sarapintadas. E são comuns as imagens de uma onça que mostra os dentes, tanto nas latas da cerveja mais popular do Peru como em toalhas de praia, camisetas, mochilas, charretes, peixarias e bares gays.
Sem dúvida, o aspecto mais misterioso da vida dupla das onças-pintadas está nos domínios dos curandeiros e dos estados alterados de consciência que os povos do Alto Amazonas vêm explorando há milênios por meio de plantas psicotrópicas. Nesse espaço oculto no qual os xamãs nativos afirmam que podem identificar a origem de todas as doenças e achar curas com a ajuda de espíritos, a onça-pintada reina sob a forma de aliada e guardiã, uma presença vital capaz de afastar moléstias e desviar forças obscuras. A onça tem lugar de destaque em meio à cornucópia de espíritos amazônicos que vivem em lagos e rios, em animais e também nas estimadas 80 mil espécies vegetais que compõem um dos mais prodigiosos ecossistemas do planeta.
Mayantuyacu fica 50 quilômetros a sudoeste de Pucallpa. “Há apenas quatro anos, não tinha estrada por aqui”, diz Andrés Ruzo, enquanto a caminhonete em que viajamos segue por uma trilha de terra numa área desmatada por fazendeiros. Aos pés de uma colina está um complexo de edificações cobertas de palha entre as árvores. Ruzo acabou conhecendo Mayantuyacu e o maestro Juan nos sete anos que dedicou ao estudo do Rio Fervente, como parte do seu doutorado, concluído com apoio de bolsa da National Geographic Society. Em poços profundos, a água é aquecida e sobe por fissuras até a superfície em que alimenta o rio, que corre por cerca de 6 quilômetros. Em certos trechos (há locais em que a temperatura chega aos 100ºC), a água é tão quente que mata todos os animais que nela caem.
Fonte: National Geographic Brasil