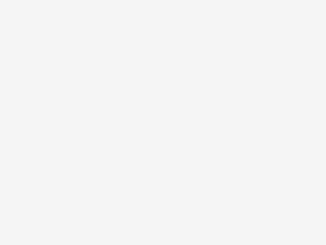A cratera Batagaika, no leste da Sibéria, com 800 metros de largura e que não para de crescer, é a maior de muitas no Ártico. Conforme o permafrost e o gelo enterrado derretem, o solo desmorona, formando crateras ou lagos.
FOTO DE KATIE ORLINSKY
SERGEY ZIMOV, ecologista de formação, joga um osso de mamute na pilha. Ele estava agachado na lama ao longo do largo e frio rio Kolyma, abaixo de um imponente penhasco que, aos poucos, desmoronava. Era verão no leste da Sibéria, muito acima do Círculo Polar Ártico, naquela parte da Rússia mais próxima do Alasca do que de Moscou. Não havia gelo ou neve à vista. No entanto, nesse penhasco, chamado Duvanny Yar, as águas do Kolyma haviam desgastado o terreno e exposto o que havia por baixo: uma camada de terra congelada, ou permafrost, de centenas de metros de profundidade — derretendo em ritmo acelerado.
Galhos, outros materiais vegetais e partes de animais da Era do Gelo — mandíbulas de bisão, fêmures de cavalo, ossos de mamute — chegavam a uma praia onde as botas de Zimov afundavam. “Eu amo Duvanny Yar”, disse ele enquanto arrancava fósseis da lama. “É como um livro. Cada página conta um pouco da história da natureza”.
Em uma área de cerca de 23 milhões de quilômetros quadrados no topo do planeta,as mudanças climáticas estão escrevendo um novo capítulo. O permafrost ártico não está derretendo gradualmente, como os cientistas previram. Geologicamente falando, está descongelando quase que da noite para o dia.

Sergey Zimov, à direita, e seu filho, Nikita, administram uma estação de pesquisa no Ártico, em Cherskiy, na Rússia, ao longo do rio Kolyma. Zimov pai descobriu pela primeira vez que o permafrost armazena muito mais carbono do que os cientistas imaginavam. Parte desse carbono escapa à medida que as temperaturas aumentam.
Conforme solos como os de Duvanny Yar ficam moles e perdem camadas, eles revelam vestígios da vida antiga — e massas de carbono — presos em terra congelada por milênios. Liberado na atmosfera como metano ou dióxido de carbono, o carbono promete acelerar as mudanças climáticas, mesmo com os esforços do homem para conter as emissões de combustíveis fósseis.
Poucos entendem essa ameaça melhor do que Zimov. Em uma estação de pesquisa em ruínas no posto de mineração de ouro de Cherskiy, cerca de três horas de lancha de Duvanny Yar, ele passou décadas desenterrando os mistérios de um Ártico que está cada vez mais quente. Nesse meio tempo, ele ajudou a contestar uma antiga ideia — especialmente a de que o extremo norte, nas eras do gelo do Pleistoceno, fora um deserto ininterrupto de gelo e solos finos pontilhados de sálvia.
Em vez disso, os abundantes fósseis de mamutes e outros grandes animais pastadores em Duvanny Yar e outros locais mostraram a Zimov que a Sibéria, o Alasca e o oeste do Canadá tinham sido pradarias férteis, ricas em pastos e salgueiros. A decomposição das plantas e dos animais mortos foi desacelerada pelo frio. Com o tempo, o lodo soprado pelo vento enterrou os restos mortais a grandes profundidades, aprisionando-os no permafrost. O resultado é que o permafrost ártico é muito mais rico em carbono do que os cientistas imaginavam.
Agora, novas descobertas sugerem que a liberação de carbono ocorrerá mais rapidamente à medida que o planeta aquece. Com base na inesperada velocidade do aquecimento do Ártico e nas formas problemáticas que a água derretida atravessa paisagens polares, os pesquisadores agora suspeitam que, para cada aumento de um grau Celsius na temperatura média da Terra, o permafrost possa liberar o equivalente a quatro a seis anos de emissões de carvão, petróleo e gás natural — o dobro ou triplo do que os cientistas imaginavam há alguns anos. Dentro de algumas décadas, se não reduzirmos o uso de combustíveis fósseis, o permafrost poderá ser uma fonte de gases de efeito estufa tão grande quanto a China, atualmente o maior emissor mundial.

O metano, um potente gás de efeito estufa, borbulha de lagos no Ártico devido ao degelo do solo. No inverno, o gelo da superfície retém o gás. Nesta lagoa perto de Fairbanks, no Alasca, cientistas perfuraram o gelo e queimaram o metano liberado.
Não estamos considerando essa fonte. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU apenas recentemente começou a incorporar o permafrost em suas projeções. Ele ainda subestima o tamanho do freezer de Pandora — e quanto estrago ele pode causar.
O potencial do permafrost de aquecer o planeta é ofuscado pelo nosso. Mas se esperamos limitar o aquecimento a dois graus Celsius, conforme acordado pelas 195 nações durante os diálogos de Paris em 2015, novas pesquisas sugerem que talvez tenhamos que cortar as emissões oito anos mais cedo do que o previsto pelos modelos do IPCC, apenas para dar conta do derretimento que ocorrerá.
Talvez seja a nossa justificativa menos valorizada para acelerar a transição a uma energia mais limpa: a fim de alcançar a meta estabelecida para combater o aquecimento, independentemente de qual seja, precisaremos agir ainda mais rápido do que imaginamos.
Zimov veio pela primeira vez a Cherskiy na década de 1970 como estudante universitário para ajudar no mapeamento de uma expedição. Ele adorava a paisagem ríspida, bem como o isolamento e o afastamento dos centros de poder soviéticos. Os invernos escuros permitiam tempo para refletir. Ele retornou alguns anos depois e fundou a Estação de Ciências do Nordeste, inicialmente com o apoio da Academia Russa de Ciências. Hoje ele é o proprietário e administra a estação com seu filho Nikita. É uma operação de improvisação executada com pouco dinheiro e equipamentos de segunda mão. Mas a estação atrai cientistas de todo o mundo que estudam o Ártico.

O vale do rio Alatna, que flui para o sul a partir do Brooks Range, no Alasca, tornou-se um corredor de passagem para os animais selvagens que rumam ao norte, a um Ártico cada vez mais quente. A população de castores está crescendo, e suas lagoas — várias podem ser vistas do outro lado do rio à esquerda — aceleram o degelo do permafrost.
Um dia, no verão de 2018, a fotógrafa Katie Orlinsky e eu nos juntamos a Zimov em um barco antigo para transportar suprimentos para uma instalação de monitoramento de carbono na Baía de Ambarchik, perto da foz do Kolyma, no Oceano Ártico. O local tinha sido originalmente utilizado para abrigar uma estação de trânsito para prisioneiros com destino aos gulags de Stalin, e relíquias da era soviética eram encontradas por toda parte. Atravessamos pastos macios por uma via delimitada por uma série de antigos aquecedores. Zimov, corpulento, com seu longo cabelo branco preso em uma boina, sondava o chão com uma haste de metal enquanto caminhava. Ele tem feito isso com bastante frequência ultimamente para verificar a profundidade do permafrost congelado.
O permafrost — solo que permanece congelado o ano todo — é coberto por alguns metros de terra e detritos vegetais. Chamado de camada ativa, esse solo normalmente derrete a cada verão e volta a congelar no inverno, protegendo o permafrost do calor acima, que é cada vez mais intenso. Mas na primavera de 2018, uma equipe que trabalhava para Nikita descobriu que a terra perto da superfície em torno de Cherskiy não havia congelado durante a longa e escura noite polar. Isso foi inédito: janeiro na Sibéria é tão brutalmente frio que a respiração humana pode congelar com um som tilintante que os indígenas Yakuts chamam de “o sussurro das estrelas”. Os soviéticos costumavam pousar aviões pesados no Kolyma. Uma camada de cerca de 76 centímetros de solo deveria estar congelada. Em vez disso, estava totalmente mole.
“Há três anos, a temperatura no solo acima de nosso permafrost era de 3 graus Celsius negativos”, disse Sergey Zimov. “Então, foi para 2 graus negativos. Posteriormente, para um grau negativo. Este ano, a temperatura atingiu 2 graus acima de zero”.

O guia de rio Michael Wald sobre um dique de castores no rio Alatna. Conforme árvores e arbustos crescem mais e se espalham para o norte, castores e outros animais seguem o mesmo caminho.
Em determinado aspecto, isso não é surpreendente. Os cinco anos mais quentes da Terra desde o final do século 19 foram registrados após 2014, e o Ártico está aquecendo mais de duas vezes mais rápido do que o resto do planeta, pois perde gelo marinho que ajuda a resfriá-lo. Em 2017, a tundra na Groenlândia enfrentou o pior incêndio florestal já registrado. Dias antes de desembarcarmos na Sibéria, os termômetros em Lakselv, na Noruega, 386 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico, registraram altíssimos 32 graus Celsius. As renas do Ártico se esconderam em túneis na estrada para se protegerem do calor.
As temperaturas do permafrost vêm subindo há meio século em todo o mundo. Em North Slope, Alasca, elas atingiram 11 graus Celsius negativos em 30 anos. O derretimento localizado do permafrost, especialmente em vilarejos onde o desenvolvimento perturba a superfície e permite que o calor penetre, causou erosão na costa, danificou estradas e escolas, rompeu tubulações e causou o desmoronamento de porões de gelo, onde os caçadores do Ártico armazenam carne de morsa e gordura de baleia. Verões quentes já estão afetando a vida dos moradores do Ártico.
O que os Zimovs estavam documentando em 2018, porém, era algo diferente, com implicações além do Ártico: degelo durante o inverno. Paradoxalmente, a culpa foi das pesadas nevascas. A Sibéria está seca, mas, durante vários invernos antes de 2018, a neve espessa sufocou a região. A neve atuava como um cobertor, aprisionando o calor do verão no solo. Em um local de pesquisa a cerca de 17 quilômetros de Cherskiy, Mathias Goeckede, do Instituto Max Planck de Biogeoquímica da Alemanha, descobriu que a profundidade da neve havia dobrado em cinco anos. Até abril de 2018, as temperaturas na camada ativa haviam subido 12 graus Celsius negativos.
O fenômeno não se limitou à Sibéria. Vladimir Romanovsky, especialista em permafrost da Universidade do Alasca Fairbanks, observou durante anos a camada ativa congelar completamente até meados de janeiro em cerca de 180 locais de pesquisa no Alasca. Porém como esses lugares também enfrentaram um período recente de pesadas nevascas, o congelamento passou a acontecer em fevereiro e depois em março. Em 2018, oito dos locais de Romanovsky perto de Fairbanks e uma dezena de locais na Península Seward, no oeste do Alasca, deixaram de congelar totalmente.

Os antigos solos do permafrost ártico, vistos aqui na parede da cratera Batagaika, contêm restos orgânicos de folhas, grama e animais que morreram há milhares de anos, durante a Era do Gelo. Todo esse carbono estava firmemente preso na terra congelada — até agora.
FOTO DE KATIE ORLINSKY
Globalmente, o permafrost detém até 1,6 mil gigatoneladas de carbono, quase o dobro do que há na atmosfera. Ninguém espera que tudo ou até mesmo que a maior parte seja liberada. Até recentemente, os pesquisadores presumiam que o permafrost perderia no máximo 10% de seu carbono. Acreditava-se que, se isso realmente acontecesse, poderia levar cerca de 80 anos.
Mas quando a camada ativa para de congelar no inverno, as coisas aceleram. O calor acrescentado permite que micróbios consumam material orgânico no solo — e emitam dióxido de carbono ou metano — o ano todo, em vez de apenas durante alguns curtos meses a cada verão. E o calor do inverno se espalha pelo próprio permafrost, descongelando-o mais rápido.
“Muitas das nossas suposições estão sendo refutadas”, disse Róisín Commane, química atmosférica da Universidade de Colúmbia que monitora as emissões de carbono a bordo de um avião. Ela e seus colegas descobriram que a quantidade de CO2 liberada em North Slope, Alasca, no início do inverno aumentou 73% desde 1975. “Estamos tentando entender o que está acontecendo no Ártico com base no que acontece durante o verão”, disse Commane. “Mas a história começa quando o sol se põe”.
Alguns invernos com neve não criam tendência. No inverno passado houve menos neve em Cherskiy e o solo voltou a esfriar consideravelmente. Fairbanks também teve pouca neve. No entanto, em alguns dos locais pesquisados por Romanovsky no Alasca, a camada ativa novamente reteve calor suficiente para impedir o congelamento total.
“Isso é realmente espantoso”, disse Max Holmes, vice-diretor do Centro de Pesquisas Woods Hole de Massachusetts, que estuda o ciclo do carbono no Alasca e em Cherskiy. “Eu sempre imaginei o derretimento do permafrost como um processo lento e constante, e talvez esses cinco anos tenham sido bastante peculiares. Mas e se estivermos errados? E se as coisas começarem a mudar a um ritmo muito mais acelerado?”

Os Zimovs acreditam que grandes animais pastadores ajudaram a preservar as ricas pradarias do Ártico durante a Era Glacial, em parte por fertilizar a grama. Na esperança de recuperar a estepe seca — e também retardar o degelo do permafrost —, eles estão importando cavalos selvagens e outros pastadores para uma região ao longo de um afluente do rio Kolyma. Eles a batizaram de Parque do Pleistoceno.
E se as mudanças passarem a se reforçar sozinhas — como já acontece, por exemplo, no caso do gelo marinho do Ártico? O gelo do mar reflete os raios do sol, mantendo frio o oceano abaixo dele. Mas conforme o gelo do mar derrete, o oceano escuro absorve calor, provocando o derretimento de mais gelo.
Como regra geral, é difícil prever os pontos nos quais surgem esses ciclos viciosos. “Sabemos que há limites que não queremos ultrapassar”, disse Chris Field, diretor do Instituto Ambiental Woods da Universidade de Stanford. “Mas não sabemos exatamente onde eles estão”.
Com o permafrost, há muita coisa que não conseguimos ver. Ele abrange uma área que é mais que o dobro do tamanho dos Estados Unidos, habitada por cerca da metade do número de pessoas que habitam a cidade de Nova York, em alguns dos terrenos menos acessíveis do mundo. Apenas uma pequena parte do permafrost é monitorada diretamente. Os cientistas estudam pequenas parcelas, rastreiam outras remotamente e tiram conclusões sobre o restante — ao contrário do gelo marinho do Ártico, que pode ser medido em sua totalidade por satélite. “É possível acessar a Internet e acompanhar exatamente o que aconteceu com o gelo marinho”, explica o especialista em permafrost Ted Schuur, da Universidade do Norte do Arizona. “Mal conseguimos analisar o permafrost. Não temos ferramentas para medir o que está acontecendo.”
Um tipo de permafrost tem deixado os pesquisadores especialmente preocupados: os cerca de 20% que contêm imensos depósitos de gelo sólido. Parte desse gelo se formou quando a água percorreu os solos e congelou ao atingir o permafrost. Alguns foram criados ao longo de milhares de anos durante os invernos árticos, quando o solo se contraía e rachava adotando um padrão poligonal. Na primavera, a água derretida preenchia essas fendas, que posteriormente voltavam a congelar. Com o tempo, o gelo enterrado se transformou em enormes aberturas envoltas em permafrost. Duvanny Yar possui diversas dessas estruturas.
E elas podem se desfazer rapidamente. Quando o permafrost se desintegra, o gelo enterrado também derrete. À medida que a água é drenada, ela transporta calor que propaga o degelo, deixando para trás túneis e bolsas de ar. O solo afunda para preencher essas cavidades, criando depressões na superfície que se enchem de água da chuva e água derretida. A água deixa piscinas mais fundas e desgasta suas margens de gelo, até que poças se transformam em lagoas e lagoas se transformam em lagos. Isso faz com que mais solo aqueça e mais gelo derreta.

Nikolai e Svetlana Yaglovsky, um casal indígena, ainda ganha a vida caçando e pescando no Kolyma perto de Cherskiy. Alguns de seus vizinhos foram forçados a se mudar para a cidade. O derretimento do permafrost está destruindo as casas ribeirinhas e dificultando a navegação na paisagem.
O “degelo abrupto”, como os cientistas chamam esse processo, altera toda a paisagem. Ele desencadeia deslizamentos de terra; em Banks Island, no Canadá, os cientistas documentaram um aumento de 60 vezes em grandes depressões no solode 1984 a 2013. Derruba florestas. Merritt Turetsky, ecologista da Universidade de Guelph, no Canadá, acompanha o degelo abrupto em uma floresta de abetos negros perto de Fairbanks há 15 anos. Ela descobriu que a inundação ocorrida lá está desestabilizando raízes e troncos de árvores. Turetsky suspeita que todas as árvores de sua “floresta bêbada” irão tombar em breve e serão engolidas por novos pântanos. “Ainda há pequenas parcelas de terra, mas você precisa percorrer alguns pontos alagados para alcançá-las”, disse ela.
Todo o degelo do permafrost leva a emissões de gases de efeito estufa. Mas água parada intensifica a ameaça. O gás que borbulha da lama sem oxigênio no fundo de lagoas e lagos não é apenas dióxido de carbono, mas também metano, que é 25 vezes mais potente como gás de efeito estufa do que o CO2. A ecologista Katey Walter Anthony, da Universidade do Alasca, mede o metano proveniente dos lagos do Ártico há duas décadas. Seus últimos cálculos, publicados em 2018, sugerem que novos lagos criados pelo degelo abrupto podem quase triplicar as emissões de gases de efeito estufa esperadas para o permafrost.

Os penhascos de permafrost estão desmoronando em Newtok, no Alasca, no rio Ninglick perto do mar de Bering, e estão agora a poucos metros de algumas casas. O vilarejo está se mudando para um novo local a cerca de 14 quilômetros a montante — um dos pioneiros em um processo que talvez muitos vilarejos do Alasca tenham que realizar um dia.
Não está claro quanto dessa mensagem chegou aos ouvidos dos formuladores de políticas. Em outubro passado, o IPCC divulgou um novo relatório sobre a mais ambiciosa de duas metas de temperatura adotadas na conferência de Paris em 2015. A temperatura do planeta já sobe cerca de um grau Celsius desde o século 19. Segundo o relatório, estabelecer para o aquecimento global uma meta de 1,5 grau Celsius, e não dois graus, deixaria de expor 420 milhões de pessoas a frequentes ondas de calor extremo e reduziria pela metade o número de plantas e animais que enfrentam a perda de habitat. Também poderia salvar alguns recifes de coral — e até 1,9 milhão de quilômetros quadrados de permafrost. Mas, para atingir a meta de 1,5 grau, segundo o IPCC, o mundo teria que reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 45% até 2030, eliminá-las completamente até 2050 e desenvolver tecnologias para retirar grandes quantidades da atmosfera.
O desafio pode ser ainda mais difícil. Nesse relatório que menciona a meta de 1,5 grau, pela primeira vez o IPCC levou em consideração as emissões provenientes do permafrost — mas não incluiu as emissões do degelo abrupto. Os modelos climáticos ainda não são sofisticados o suficiente para capturar esse tipo de rápida alteração na paisagem. Mas, a pedido da National Geographic, Katey Walter Anthony e Charles Koven, modelador do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, fizeram cálculos gerais que incluem as emissões do degelo abrupto. Eles estimam que, para estagnar o aumento da temperatura em 1,5 grau, teríamos que zerar nossas emissões de combustíveis fósseis pelo menos 20% mais cedo — até 2044, seis anos antes do cronograma do IPCC. Isso nos daria apenas um quarto de século para transformar completamente o sistema global de energia.
“Estamos enfrentando esse futuro desconhecido com um conjunto incompleto de ferramentas”, disse Koven. “A incerteza não está do nosso lado. Há muitas formas pelas quais as coisas podem piorar”. Há mais de uma maneira de criar novos lagos, por exemplo.
Algumas semanas depois de deixar a Sibéria, Orlinsky e eu fizemos um raftingpelo Parque Nacional Gates do Ártico, no Alasca, com o ecologista Ken Tape, colega de Walter Anthony na Universidade do Alasca. Chegamos de hidroavião junto com o guia Michael Wald ao Lago Gaedeke, na região central de Brooks Range. De lá seguimos para o sul, pelo rio Alatna. O sol de setembro dançava na água. Após cerca de 1,6 quilômetro, encontramos galhos mastigados ao longo da margem. Estávamos no rio há uma semana quando chegamos a um lago de cerca de 15 hectares que não existia antes. No centro, um enorme dique construído por castores.
Tape utiliza fotografias aéreas e de satélite há anos para acompanhar como as plantas e animais silvestres estão mudando no Alasca — e como isso pode afetar o permafrost. Conforme o permafrost descongela e os períodos de crescimento da vegetação ficam mais longos, o Ártico fica cada vez mais verde: os arbustos nas planícies fluviais do Alasca, por exemplo, quase dobraram de tamanho (embora o crescimento da vegetação absorva mais carbono, uma pesquisa realizada por especialistas em 2016 concluiu que a presença de vegetação no Ártico não será suficiente para compensar o degelo do permafrost). A vegetação está atraindo animais para o norte.

O vilarejo de Newtok, com 380 habitantes, está afundando à medida que o permafrost abaixo dele descongela. Em uma caçada de verão, quatro meninos yupik — da esquerda para direita, Kenyon Kassaiuli, Jonah Andy, Larry Charles e Reese John — atravessam uma passagem inundada.
Com salgueiros agora altos o suficiente para atravessar a neve, as lebres-americanas conseguem encontrar comida no inverno e tocas em todo o terreno até o Oceano Ártico. Normalmente habitantes da floresta, elas agora colonizaram North Slope no Alasca, a centenas de quilômetros de qualquer floresta de verdade. Os linces, que caçam lebres, parecem ter seguido o mesmo caminho. Ambos provavelmente estão percorrendo uma trilha feita por alces, que também se alimentam de salgueiros e agora já somam 1,6 mil indivíduos ao longo do rio Colville, onde antes não eram encontrados.
Essas descobertas levaram Tape a procurar fotografias de outros recém-chegados à tundra. “Assim que pensei nos castores, agarrei-me a essa ideia”, disse ele. “Poucas espécies deixam uma marca tão visível que pode ser vista do espaço.”
Em imagens de 1999 a 2014 de apenas três bacias hidrográficas, ele avistou 56 novos complexos com lagoas formadas por castores que não estavam lá na década de 1980. Os animais estão colonizando o norte do Alasca intensamente, movendo-se a cerca de oito quilômetros por ano. Tape acredita que agora existam até 800 complexos com lagoas formadas por castores no Alasca Ártico, incluindo aquele com um enorme dique no Alatna. Tape apelidou-os de Lodge Mahal.
Foi uma visão e tanto: um monte de galhos e mudas, com cerca de 2,4 metros de altura por 10,6 metros de largura, coberto de lama e musgo, localizado em um lago com água até a cintura, rodeado por um lodaçal. A água havia sido desviada do rio por uma série de barragens. “Todo aquele pântano em torno do Lodge Mahal é novo”, disse Tape. “Há cinquenta anos, não havia castores por aqui”.
Tape e Wald queriam explorar o Alatna em parte porque um guia que trabalha para Wald já havia encontrado madeiras roídas por castores ao longo do rio Nigu. O Nigu começa perto do Lago Gaedeke, a cabeceira do Alatna, mas do outro lado da Divisa Continental — e assim flui para o norte, para o rio Colville e o Oceano Ártico. Ao longo do Alatna, acima do Lodge Mahal, encontramos outras lagoas e barragens abandonadas. Tape agora acha que os castores estão a caminho de North Slope, e que eles estão usando o Alatna para atravessar o Brooks Range. “Estamos testemunhando essa expansão em tempo real”, disse ele.

Um urso polar inspeciona um carro perto de Kaktovik, Alasca. O derretimento do gelo marinho está levando mais ursos ao continente em busca de alimentos — assim como o descongelamento e a inundação de porões de gelo estão forçando mais alasquianos a armazenar peixe e carne em outros locais.
Ele não consegue provar que as mudanças climáticas estejam causando isso; a população de castores também está se recuperando desde o fim do comércio de peles, há um século e meio. Mas em todo caso, esses engenheiros dentuços podem alterar terrenos de permafrost de forma significativa. “Imagine se você fosse um incorporador e dissesse que está em busca de permissão para construir três barragens nos riachos da tundra do Ártico”, disse Tape. “Esse é o possível cenário”.
Tape já viu uma prévia do problema. A sudeste de Shishmaref, na península de Seward, no Alasca, fotos de um afluente do rio Serpentine não mostram nenhuma alteração entre 1950 e 1985. Em 2002, os castores se mudaram para lá e inundaram a paisagem. Em 2012, alguns terrenos entraram em colapso e se transformaram em pântanos. O permafrost estava prestes a sumir.
O Ártico não será reformulado por algumas centenas de castores. Mas os animais podem estar a caminho do norte do Canadá e da Sibéria, e eles se reproduzem rapidamente. A experiência na Argentina serviu para nos dar uma lição: vinte castores foram deliberadamente introduzidos no sul em 1946, a fim de promover o comércio de peles. Hoje, essa população gira em torno de 100 mil indivíduos.
Na visão dos Zimovs sobre o passado e o futuro do permafrost ártico, os animais selvagens também desempenham um papel central — sem contar que são maiores que os castores e seu efeito sobre o permafrost é mais benéfico. Os rebanhos de bisões, mamutes, cavalos e renas que atravessavam as estepes do Pleistoceno, argumentou Sergey Zimov, fizeram mais do que apenas comer a grama. Eles a preservaram. Eles a fertilizaram com seus dejetos e a compactaram, pisoteando musgos e arbustos e arrancando mudas de árvores.
A partir da última era glacial, aquelas pradarias secas e ricas foram substituídas na Sibéria oriental por uma tundra úmida, dominada por musgos ao norte e florestas mais ao sul. Um dos principais responsáveis por essa mudança, segundo Zimov, foram os caçadores humanos que dizimaram os rebanhos de grandes pastadores, cerca de 10 mil anos atrás. Sem os pastadores para fertilizar o solo, a grama morreu; sem grama para absorver a água, o solo ficou mais úmido. Musgos e árvores tomaram conta do espaço. Mas se os humanos não tivessem levado o ecossistema ao limite milhares de anos atrás, ainda haveria mamutes pastando na Sibéria.

Há milhares de anos, o povo inupiat ao longo de North Slope, no Alasca, caça baleias-da-groenlândia. Uma única baleia pode alimentar toda a comunidade por quase um ano se a carne e a gordura forem devidamente armazenadas, o que tradicionalmente tem sido feito em porões de gelo escavados no permafrost. Conforme o permafrost descongela, os porões de gelo são inundados.
Quase 25 anos atrás, nas terras baixas perto de Cherskiy, Zimov criou um projeto-piloto de 145 quilômetros quadrados chamado Parque do Pleistoceno. Sua ideia era trazer grandes pastadores de volta e ver se eles conseguiam recuperar as pradarias. Ele e Nikita cercaram cavalos selvagens e posteriormente trouxeram iaques e ovelhas do Lago Baikal. Na primavera passada, Nikita transportou 12 bisões da Dinamarca, viajando 14,4 mil quilômetros pela Rússia de caminhão e barca. Em 2018, os Zimovs uniram forças com o geneticista da Universidade de Harvard, George Church, que acredita ser capaz de clonar um mamute. A esperança é que um dia essas feras agora extintas estejam pastando pelo Parque do Pleistoceno, prosperando no Antropoceno.
O parque é o teste final da hipótese de Sergey Zimov — e, espera ele, uma proteção contra futuras mudanças climáticas. As pradarias, especialmente quando cobertas de neve, refletem mais luz solar do que a floresta escura. Os animais pastadores reduzem a quantidade de neve profunda enquanto pastam, permitindo que o calor escape do solo. Ambas as coisas resfriam a terra. Se a vida selvagem conseguisse recuperar as pradarias, o degelo do permafrost seria retardado e reduziria, por consequência, as mudanças climáticas. Para fazer diferença, no entanto, seria necessário soltar milhares de animais selvagens em milhões de hectares no Ártico.
Os Zimovs dizem que as evidências obtidas em seu parque de 14,5 mil hectares são promissoras. Mesmo com apenas cerca de cem animais, as pastagens do parque ficam substancialmente mais frescas do que o solo na área adjacente.

Josiah Olemaun, um jovem baleeiro inupiat em Utqiaġvik (Barrow), no Alasca, descansa após empilhar carne de baleia no porão de permafrost de sua família.
A diferença entre as ambições dos Zimovs e a realidade do parque é, sem dúvida, grande. Durante um passeio em uma tarde, Orlinsky e eu caminhamos sobre grama encharcada até um trecho do pântano para observar os cavalos. Um bisão solitário escondeu-se à distância. Nikita nos levou em seu minitanque de oito rodas e atravessamos os salgueiros. Após uma íngreme subida, abrimos caminho entre alguns pinheiros-lariços finos. É por isso que eles precisam de herbívoros gigantes, disse Nikita: “No momento, não tenho nenhum animal capaz de matar essas árvores”. Ele passa muito tempo arrecadando fundos, mais recentemente na Califórnia, andando com pessoas do tipo do ex-governador Jerry Brown, apenas para manter essa prova de conceito em teste.
O conceito tem seus críticos. Alguns cientistas contestam as estimativas dos Zimovs sobre o número de animais de grande porte que ocuparam a Sibéria no Pleistoceno, ou insistem que a teoria deles sobre a mudança ecológica, tanto no passado quanto no presente, seja simplista demais. Sobretudo, a maioria das críticas parece estar à altura da audácia dos Zimovs. Max Holmes do Woods Hole, que os conhece bem, vê uma centelha de genialidade no trabalho deles. Os Zimovs são ”atípicos”, disse Holmes, “mas é aí que grandes ideias e grandes mudanças começam”.
Fora do Parque do Pleistoceno, o mundo moderno respondeu ao aquecimento do Ártico com complacência. Passamos décadas ignorando as evidências das mudanças climáticas e torcendo para que as coisas não piorem tanto. Contamos com avanços tecnológicos que parecem sempre fora de alcance. E fazemos isso apesar de cientistas climáticos — principalmente especialistas em permafrost — afirmarem que todos os sinais apontam para a necessidade de ações urgentes e até mesmo audaciosas.
Os Zimovs são diferentes: passaram suas vidas lutando contra um terreno implacável que recompensa a teimosia. Eles perguntam se tentar salvar o permafrost recuperando a estepe do Ártico é realmente muito mais absurdo do que contar com o homem para rapidamente mudar o sistema energético do mundo. Talvez precisemos de um pouco de loucura.
“Combater as mudanças climáticas requer múltiplas ações de várias frentes diferentes”, disse Nikita. Somente se combinarmos todas, conseguiremos evitar que o futuro seja “totalmente miserável”.
Fonte: Craig Welch – National Geographic