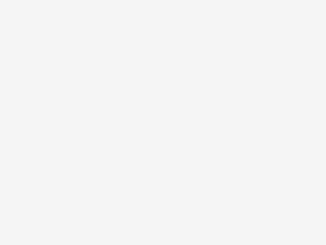Perturbação dos ecossistemas é o fator principal na passagem de doenças de animais para seres humanos.

FOTO DE MARCIO ISENSEE E SÁ/GETTY IMAGES
Com 5,5 milhões de km2, a Amazônia é maior floresta tropical e abriga um terço da biodiversidade do planeta. As dezenas de milhares de espécies que ali habitam coexistem em graus moderados de competição e predação. Cada uma, por sua vez, abriga parasitas como vírus, protozoários e bactérias que também convivem harmoniosamente no ciclo silvestre.
Seja desmatamento, degradação, queimadas, urbanização ou mudança do uso do solo ou de hábitos alimentares dos humanos, perturbações em ecossistemas provocam uma ruptura no equilíbrio silvestre capaz de propiciar a emergência de uma nova zoonose.
“Na cadeia alimentar, as plantas sustentam todo o ecossistema. Quando são retiradas, ocorre uma cascata trófica”, observa Gabriel Laporta, biólogo especialista em saúde pública e bioestatística. Ele é pesquisador científico do setor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação do Centro Universitário de Saúde ABC.
Enquanto esse sistema começa a entrar em colapso, as espécies que estão lá dentro tentam sobreviver de alguma forma. Diante da alta demanda por energia via cadeia alimentar, os predadores do topo acabam sendo os primeiros a fugirem ou a sucumbirem à destruição de seu habitat. Entre as espécies que conseguem sobreviver, estão os vírus. Com alta capacidade de mutação e variação gênica, esses parasitas são mais resilientes às mudanças e, geralmente, conseguem encontrar alternativas de transmissão e persistência.
“O fato é que toda vez que há uma mudança brusca na paisagem, ou seja, de intacta para degradada, esse processo permite a emergência de novos patógenos”, continua Laporta. “Então, há uma grande probabilidade de termos uma origem pandêmica a partir de vírus emergentes decorrentes do desmatamento e do processo de colapso dos ecossistemas da Amazônia.”
Disparada no desmatamento
Na semana passada, a Justiça Federal do Amazonas acatou pedido do Ministério Público Federal (MPF) e determinou que os órgãos de fiscalização ambiental realizem operações imediatas de comando e controle em ao menos dez áreas mais críticas na Amazônia. As regiões vivem sob ameaça constante da ação ilegal de madeireiros, grileiros e garimpeiros e foram alvo de “60% de toda degradação ambiental” da floresta tropical em 2019.
“O contexto de recrudescimento das infrações ambientais representa uma dupla ameaça”, constata o MPF, no documento, “ao meio ambiente, já abalado pelas violações perpetradas em 2019, com altas taxas de desmate e queimadas, e às populações amazônicas, especialmente povos e comunidades tradicionais, expostos à contaminação pela covid-19 em função da presença de madeireiros, grileiros, garimpeiros na floresta”.
A decisão liminar foi publicada na noite da última quinta-feira, 21 de maio, pela 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas. O pedido do Ministério Público Federal foi encaminhado para a Funai, o ICMBio, o Ibama e a Advocacia-Geral da União e assinado pela juíza federal Jaiza Maria Pinto Fraxe.
“Existem terras indígenas e outros territórios tradicionais dentro e no entorno de todos os dez hotspots de ilícitos ambientais identificados pelo Ibama”, aponta o MPF. “Nessas dez regiões, espalhadas pela Amazônia, há especial risco para as populações tradicionais e agrárias, derivado especificamente da presença maciça de infratores ambientais, já que esses agentes delitivos seguem sua trajetória de ilícitos sem que o Estado se faça adequadamente presente, seja para defender o meio ambiente, seja para proteger os povos e culturas da Amazônia.”
De 1º de agosto de 2019, quando tem início o calendário anual do desmatamento, até 21 de maio, o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter) já emitiu 28.709 alertas de de supressão da cobertura vegetal em 6.058,51 km2 da Amazônia Legal. O programa de monitoramento é do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe). Praticamente um quinto desta área identificada pelo Deter (1.048,38 km) sofreu corte raso a partir de 13 de março, dia em que foi notificado o primeiro paciente diagnosticado com covid-19 no Amazonas. Até 24 de maio, o estado registrou 29.867 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 1.758 óbitos em decorrência da doença, com a maior taxa de mortalidade do país: 42,4 a cada 100 mil habitantes. O Ministério da Saúde lista um total de 95.389 infectados (26% dos casos no Brasil) e 5.212 mortes (23%) nos nove estados que compõe a Amazônia.
Apesar dos crescentes índices de desmatamento ilegal na Amazônia, o MPF constatou que a União “não vem adotando as medidas previstas no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia”. Houve um “afrouxamento da atividade fiscalizatória federal, exemplificada pelo número de autos de infração lavrados pelo Ibama por ilícitos ambientais”.
No Amazonas, o MPF aponta que apenas quatro operações de fiscalização aconteceram em 2019, contra 45 em 2018. Ressalta também que o Ibama lavrou apenas 201 autos de infração – no ano anterior, foram 360. “O mesmo fenômeno de afrouxamento de fiscalização se verificou no ICMBio, órgão responsável pelo enfrentamento de ilícitos ambientais em unidades de conservação federais”, continua o MPF, tendo como base o fato de que foram realizadas apenas 13 das 83 ações de fiscalização programadas para 2019.

FOTO DE FELIPE FITTIPALDI
O Prodes, programa do Inpe que calcula a taxa anual oficial de desmatamento, identificou que 9.762 km2 da vegetação da Amazônia foi ilegalmente suprimida de 1º de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019 – uma alta de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior e o maior valor registrado na última década. A remoção da cobertura vegetal em terras indígenas subiu 74% e dobrou dentro de unidades de conservação. Na decisão, a juíza federal Jaiza Fraxe aponta que os últimos dados do Deter indicam que a região caminha para outra alta histórica de desmatamento anual.
Origem silvestre do coronavírus
Para Laporta, a emergência do coronavírus em pangolins-malaios pode ilustrar como a interferência humana contribui para o surgimento de uma nova zoonose. Nas florestas tropicais primárias da Malásia, pangolins e morcegos insetívoros estão no mesmo patamar da cadeia alimentar, porém pouco interagiam entre si, observa o biólogo. Com o desmatamento crescente na região, os pangolins tiveram de buscar alimento e abrigo em outros lugares. Nas áreas cultivadas, encontraram em abundância seu “prato favorito”: formigas. Na ausência das grandes árvores sob as quais dormiam na floresta, passaram a se abrigar em cavidades de pedra – locais habitados por morcegos, mamíferos conhecidos por serem reservatórios de vários tipos de coronavírus.
“O desmatamento causou um colapso nesse ecossistema e a aproximação de duas espécies que tinham uma interação muito distante”, explica Laporta. “Essa briga por comida facilitou a transferência e a mutação de coronavírus de morcegos para pangolins. Já a entrada dos pangolins em áreas desmatadas permitiu uma alta frequência de caça, porque há um interesse econômico grande por eles naquela região. Isso pode ter favorecido a disseminação, primeiro, entre os pangolins, mas também na emergência desses vírus nos seres humanos.”
A origem do Sars-CoV-2 ainda é investigada pela comunidade científica. A principal suspeita é de que tenha surgido em morcegos, mas cientistas chineses têm estudado a hipótese de que pangolins-malaios sejam potenciais vetores intermediários do novo coronavírus. Em artigo publicado na revista científica Nature em 26 de março, pesquisadores das universidades de Hong Kong e Shantou identificaram coronavírus com material genético similar ao do Sars-Cov-2 em pangolins resgatados em uma operação anti-tráfico de animais no sul da China. Em outro estudo da mesma publicação, de 7 de maio, cientistas de Guangzhou consideraram, após análise genômica, que o Sars-CoV-2 pode ter origem na recombinação de um coronavírus da cepa de um pangolim (Pangolin-Cov) com outro comum em morcegos (RaTG13).
Conservação como prevenção
De fevereiro de 2015 a março de 2019, Gabriel Laporta realizou uma série de pesquisas sobre a dinâmica de transmissão da malária na Amazônia, em diferentes níveis de fragmentação da paisagem. A doença é causada pelo protozoário Plasmodium falciparum e transmitida pelo mosquito Anopheles darlingi. O protozoário já existia entre primatas da África Equatorial e estudos sugerem que tenha passado a circular entre humanos há 6 mil anos, com a expansão da agricultura nas regiões tropicais e subtropicais africanas. O vetor chegou ao Brasil em navios negreiros, entre os séculos 16 e 19. Na Amazônia, a doença se alastrou com mais força nos anos 1970, durante a intensa ocupação da floresta tropical fomentada pelo Plano de Integração Nacional, dos governos da Ditadura Militar.

FOTO DE FELIPE FITTIPALDI
Em seus estudos, Laporta constatou que o ecossistema amazônico permanece em equilíbrio quando há de 70% a 100% de cobertura florestal na região. Já uma área que apresenta maior risco para surtos de malária se dá quando a perda de vegetação gira entre 30% a 70%. Abaixo de 30%, o mosquito não consegue sobreviver nas áreas urbanas ou altamente degradadas – isso diz respeito exclusivamente a este vetor, ressalta o biólogo.
“A maior parte dos assentamentos rurais com alto índice de malária são paisagens fragmentadas com em torno de 50% de cobertura florestal, em que o mosquito tem recursos, não encontra competição e coexiste com o homem de forma muito íntima”, explica Laporta.
A alta incidência da doença nessas ocupações é agravada pela falta de imunidade à malária dos desmatadores que ocupam esses assentamentos, uma vez que costumam migrar de outras regiões. A infraestrutura precária das moradias é outra questão. Além de assentamentos rurais, surtos de malária também acontecem em garimpos ilegais. A degradação ambiental de ambas atividades no entorno ou dentro das terras indígenas são capazes de criar uma “paisagem patogênica para os indígenas”, observa o biólogo.
“Se derrubarem todas as florestas, perdemos os serviços ecossistêmicos. Não teremos água para beber, nem solo fértil, nem conforto climático. Teria um absurdo de tempestades e eventos climáticos extremos severos”, analisa a bióloga Marcia Chame, pesquisadora e coordenadora da Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Além disso, um dos piores efeitos é que as espécies que saem de uma floresta destruída e são capazes de migrar ao ambiente urbano “seriam as melhores transmissoras de doença”, diante alta capacidade de adaptação e dos sistemas imunológicos abrangentes e resistentes. “Então, o melhor a fazer é termos as maiores áreas naturais possíveis bem preservadas. Temos encontrado situações que apontam que a presença de um número grande de espécies hospedeiras na biodiversidade dilui o processo de transmissão de doenças.”
Com o avanço da degradação ambiental no país, principalmente nos últimos dois anos, Chame observa que a febre amarela silvestre tem ocorrido em um “padrão diferenciado, o que não se via há muitos anos”, um avanço significativo de Chagas nas áreas de degradação da Amazônia, com outros ciclos de doenças, e um aumento da circulação de vírus como o oropouche e a hantavirose, em surtos pequenos no Brasil todo.
Em 2006, Marcia Chame coordenou o Informe Nacional de Espécies Exóticas Invasoras no Brasil, o primeiro levantamento do gênero feito no país, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Fiocruz. A lista foi revisada e atualizada em dezembro de 2018, em relatório da Plataforma Institucional de Biodiversidade e Saúde, da Fiocruz. Os pesquisadores identificaram 101 espécies que afetam a saúde humana, a maioria introduzida no período colonial através das navegações, das quais 86,8% já se expandiram pelo Brasil. São vírus, bactérias, helmintos, fungos, protozoários, moluscos, artrópodes e plantas que entraram no país de alguma forma como, por exemplo, em meio a humanos adoecidos ou vetores como os mosquitos. Além do impacto às pessoas, a Fiocruz identificou que esses parasitas exóticos ameaçam 7,5% das 16 mil espécies brasileiras em risco de extinção.
A bióloga destaca o Aedes aegypti como “nosso grande marcador do que é o impacto da entrada de uma espécie exótica”. Esse mosquito teve origem no Egito e se espalhou para as regiões tropicais e subtropicais do planeta no século 16. A primeira descrição científica remonta à 1762. No começo do século 20, a espécie foi identificada como transmissora da febre amarela urbana no Brasil, até ser erradicada em 1955, fato reconhecido pela Organização Mundial da Saúde três anos depois. Contudo, o vetor se manteve em territórios amazônicos da Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, além de toda a América Central, Caribe e Sul dos Estados Unidos. Em 1960, o relaxamento das ações de controle e a “dispersão passiva dos vetores” – via deslocamentos humanos marítimos ou terrestres – resultaram na reintrodução do Aedes aegypti no Brasil. Hoje, o mosquito habita e provoca endemias de dengue, zika e chikungunya em todos os estados.
Dinâmicas das zoonoses
Nos anos 1930, Yevgeny Pavlovsky, médico parasitologista russo, elaborou o conceito da biocenose e a teoria dos focos naturais das doenças transmissíveis depois de observar que a expansão agrícola da União Soviética sobre territórios asiáticos provocara problemas de saúde pública – surtos de leishmaniose na Ásia Central e de encefalites por arbovírus na Sibéria.
“O agente vive em um ambiente sem causar desequilíbrio, em harmonia. Desde que não tenha nada que lhe prejudique, ele permanece ali, inerte, em latência”, observa Antonio Magela, médico infectologista e diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, em Manaus (AM). “Mas, quando acontece alguma alteração, seja no próprio agente ou nas condições ambientais, acontece a patobiocenose. Ou seja, tenho atores suficientes que, se interagirem, podem determinar uma capacidade de causar doença.”
Nessa dinâmica, Magela aponta a capacidade de mutação dos vírus. Este tipo de agente etiológico tem facilidade para alterar seu material genético, a fim de garantir a sobrevivência da espécie na natureza. O problema é que, com essas mutações, os vírus podem se transformar a ponto de alterar seu grau de virulência.
Entre as principais espécies hospedeiras, Magela destaca o porco. O animal é capaz de abrigar, ao mesmo tempo, tipos de vírus que causam gripes em aves, humanos e neles próprios. Esses agentes podem interagir no organismo do suíno e trocar material genético. Dessa combinação, pode surgir um novo vírus. “Então, é preciso que um agente tenha uma modificação, às vezes no material genético, e encontre um hospedeiro mais suscetível, onde possa se albergar e desenvolver um ciclo reprodutivo e passar por mutações genéticas”, continua o infectologista. “No início, são só tentativas de adaptação, mas o resultado disso é imprevisível. Pode ser que daqui surja um ser inerte, ou uma espécie muito virulenta e de alta letalidade.”
O conceito da “Tríade Ecológica” foi elaborado por Hugh Rodman Leavell e Edwin Gurney Clark na década de 1960. Os médicos americanos descrevem as razões que determinam a emergência de uma doença em respectivo local – dinâmica que engloba o agente infeccioso, o hospedeiro e o ambiente. A emergência de um novo patógeno é resultado da forma e da constância das interações entre esses três atores. Já a gravidade da epidemia depende de outra série de fatores. “As condições sociais, econômicas, os hábitos de vida da população vão determinar se essa doença terá um nível de gravidade maior ou menor, se durará muito ou pouco, se terá rápida disseminação e grande letalidade”, considera Magela.
As características do agente infeccioso também ditam o rumo da epidemia. A transmissibilidade significa a capacidade dele migrar de um reservatório para um hospedeiro intermediário ou definitivo. A patogenicidade consiste em sua capacidade em causar doença. Já a virulência trata-se do grau de gravidade da doença gerada.
“Quanto mais virulento, mais grave é a doença que pode causar”, prossegue Magela. “Isso serve para qualquer agente: um vírus como o da covid-19; uma bactéria que cause uma infecção intestinal, por exemplo, o botulismo; da bactéria da cólera, o vibrião colérico. São agentes biológicos que interagem com fatores ambientais, químicos e sociais, para que sejam capazes de gerar um ambiente propício para que uma doença se instale em determinada população.”
Endemias amazônicas
A Organização Mundial da Saúde mantém uma lista de patógenos e doenças infecciosas prioritárias, em termos de pesquisa e desenvolvimento, bem como na estruturação da saúde pública para possíveis contextos de emergência. Estão listados o zika, o ebola; as doenças dos Sars-1, Mers, Nipah, Henipavírus, a febre hemorrágica Crimeia-Congo e a do Vale do Rift. No fim da lista, encontra-se a “Doença X”. Trata-se de uma possível e grave epidemia internacional que possa emergir de um patógeno que atualmente não cause doenças em humanos. Seria o caso, por exemplo, da covid-19, incluída recentemente na lista. “Essa Doença X pode ser qualquer doença, causada por qualquer agente, surgida em qualquer lugar, a qualquer momento. É sempre o inesperado, como aconteceu com a emergência desse vírus em Wuhan, na China”, explica Magela.
“Os desmatamentos agudos muito abruptos geram sempre um desequilíbrio entre os mosquitos e os reservatórios que usam para o repasto sanguíneo, porque esses reservatórios fogem. Então, o mosquito acaba tendo o homem como fonte de seu repasto sanguíneo”
“Em um primeiro momento, as pessoas que vivem ali, na margem da floresta devastada, é que serão os alvos da doença. Com o tempo, a população passa a habitar aquele local, que vira a periferia de uma cidade onde o agente pode se espalhar. Dali a um tempo, que não temos como prever, pode ser que tenhamos um problema de magnitude maior. É uma questão sempre presente na Amazônia.”
O infectologista destaca a preocupação com doenças que já se tornaram endêmicas na região. A malária, por exemplo, tem como vetor um mosquito com hábito silvestre, o Anopheles darlingi, “mas o homem [na Amazônia] vive muito próximo da floresta e é impossível evitar que entre em contato”. Há também a leishmaniose, vírus de cinco tipos de hepatites, filarioses, parasitoses intestinais e raiva humana, por exemplo.
Além do mais, as arboviroses são foco constante de atenção. Magela observa que existem mais de 400 arbovírus conhecidos na Amazônia. “Desses, uns 200 já são capazes de causar doenças no homem que entra em contato com a floresta. Temos descritos em torno de 100, sobre os quais conhecemos as famílias de vírus e as doenças que podem causar”, contextualiza o médico. As patologias podem ser uma doença febril indiferenciada, uma febril exantemática – com manchas na pele –, uma encefalite; ou, nos casos mais graves, febre hemorrágica, pontua o infectologista.
Para Magela, existe a possibilidade de o vírus da febre amarela se estender do ambiente silvestre para o urbano, uma vez que o Aedes aegypti habita cidades que adentram cada vez mais as florestas, “apesar de existir uma vacina conhecida bastante segura e eficaz”.
Até hoje, nenhuma zoonose de origem amazônica extravasou as fronteiras da floresta tropical em surtos de grandes proporções. Mas, diante da perturbação dos ecossistemas e dos deslocamentos humanos, existe um risco permanente de eclodir uma zoonose de grande potencial.
“No mundo globalizado, pessoas, bens de consumo e todo tipo de produto circulam pelo mundo em grandes extensões e velocidade – e isso vale também para os agentes infecciosos”, explica Magela. “Eles podem sair, sim, da Amazônia e se manifestar em qualquer lugar do mundo, assim como pode também ocorrer o inverso. Pode sair de qualquer país do mundo e se manifestar aqui na Amazônia ou em qualquer estado brasileiro.”
A chave para evitar Zoonoses de grandes proporções consiste no fortalecimento da vigilância epidemiológica, a nível municipal, estadual, federal e mundial, acredita Magela.
Vigilância epidemiológica
Por que ainda não ocorreu uma epidemia de grandes proporções, até pandêmica, originada na Amazônia? “Na verdade, são vírus que estão dentro desses ciclos silvestres. Portanto, dão-se em uma baixa transmissão por estarem em áreas grandes, com diversas espécies hospedeiras”, explica Marcia Chame, pesquisadora da Fiocruz. “Em todo esse processo de transmissão, nossa grande preocupação é a capacidade de adaptação ao ambiente urbano tanto de vetores quanto dos vírus e de outros parasitos.”
Atualmente, as maiores preocupações quanto a endemias no país são os quatro vírus da dengue, o zika e o chikungunya, pontua Chame. Tratam-se de arboviroses, doenças provenientes de vírus nascidos de artrópodes que precisam de espécies vetoras como intermediárias no ciclo da doença.
Outro foco de atenção da vigilância epidemiológica é a febre amarela. Chame trabalha em um estudo pelo Programa Institucional de Biodiversidade e Saúde, em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica, com o objetivo de correlacionar os fatores que contribuíram para os surtos de febre amarela que acontecem desde 2017 no Brasil. Os pesquisadores utilizam modelos matemáticos nas análises em uma base de dados com 40 mil características ambientais, de infraestrutura e densidade urbana.
“O modelo, por mais complexo que seja, simplifica a natureza”, pondera a bióloga. “Nós usamos casos humanos de febre amarela, mas utilizamos os primatas como grandes indicadores da circulação da doença. Hoje, sabemos que onde primatas começam a morrer, o vírus já está circulando naquela região e começamos a ter os primeiro casos [em humanos] quase dois meses depois da primeira morte de macacos.”
Para agregar a complexidade da natureza aos sofisticados modelos matemáticos do estudo, o programa conta com o Sistema de Informação em Saúde Silvestre (SISS-GEO), uma plataforma computacional que permite que cidadãos reportem, por meio de um aplicativo de celular, “agravos na fauna silvestre”, a exemplo da morte de animais como macacos, morcegos e roedores.
Com informações georreferenciadas e coleta das amostras biológicas, os pesquisadores estabelecem os “corredores ecológicos” por onde a transmissão caminha. “As áreas de agricultura e pecuária próximas a ambientes naturais, principalmente junto a montanhas e ao longo do leito de rios e de estradas, acabam sendo corredores de dispersão da febre amarela”, observa Chame. “Quando esses corredores encontram uma grande área conservada, de mais de 100 mil hectares, a rapidez com que a febre amarela se espalha diminui de uma forma bastante importante. Mas pessoas estão cada vez mais entrando, desmatando, fazendo condomínios, colocando-se na beira da mata. Elas ficam expostas e a população de primatas que permanece dentro desses fragmentos é pequena. Então, esse ciclo extravasa o ambiente e os hospedeiros silvestres para as pessoas nessas áreas.”
No final de 2019, o SISS-GEO passou a integrar o Sistema Único de Saúde, a fim de auxiliar na vigilância de zoonoses no país. Antes, os profissionais de saúde recebiam os alertas por telefone ou, mais recentemente, aplicativos de mensagens. Os avisos são feitos, por exemplo, por funcionários de parques ecológicos, profissionais de saúde ou pelos próprios cidadãos. Mas nem sempre a localização exata de um animal morto era fornecida. Isso dificultava no deslocamento de equipes para a coleta da amostra biológica de vírus de RNA, que somem pouco tempo depois da morte de um animal infectado.
No SISS-GEO, o usuário registra uma foto do animal e detalha as informações enquanto a notificação é georreferenciada via satélite. Quando a pessoa entra em uma área com rede de telefonia, o registro é enviado ao Ministério de Saúde e secretarias estaduais e municipais. Os profissionais desses órgãos, então, fazem uma avaliação taxonômica para identificar a espécie do animal e elaboram o roteiro da coleta.
“Quando as pessoas ajudam e temos várias informações, é possível construir essa rota para onde o vírus está se dispersando e, pelas características ambientais e dos corredores ecológicos, indicar quais são os municípios à frente que devem intensificar o processo de vacinação da febre amarela”, ressalta Chame. “Assim, quando esse vírus chegar, aquela população humana já estará imunizada.”
A integração do SISS-GEO à vigilância epidemiológica brasileira já surtiu efeito prático. O monitoramento do Ministério da Saúde identificou a circulação do vírus da febre amarela entre julho e outubro de 2019, em São Paulo e no Paraná. As confirmações aumentaram a partir de novembro e identificou-se que a dispersão do vírus ocorria em direção à região Sul e ao oeste do Paraná. De julho de 2019 a maio de 2020, a Secretaria de Vigilância em Saúde recebeu 2.936 notificações de doenças em primatas não-humanos no país, 61% delas na região Sul. Neste período, 348 epizootias foram confirmadas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Os primeiros casos da doença em humanos foram detectados em Santa Catarina, em janeiro de 2020. Nos dois primeiros meses do ano ocorreram os picos de transmissão, conforme o boletim epidemiológico de maio do Ministério da Saúde. O Ministério, então, iniciou uma campanha de vacinação que abrangeu municípios das regiões que seriam mais afetadas pela circulação do vírus e de áreas vizinhas, nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará. Com isso, apenas 17 pessoas tiveram febre amarela entre julho de 2019 a maio de 2020, 14 delas se recuperaram e três vieram a óbito, segundo o Ministério da Saúde.
No boletim, a pasta ressaltou que o uso do aplicativo do SISS-GEO “possibilitou definir áreas prioritárias para ações de vigilância e imunização com maior acurácia, a partir da metodologia de previsão dos corredores ecológicos favoráveis à dispersão do vírus na região Sul”.
“Pela primeira vez conseguimos estar à frente dos casos de febre amarela, embora ainda continuem acontecendo”, aponta Chame.
Fonte: National Geographic Brasil