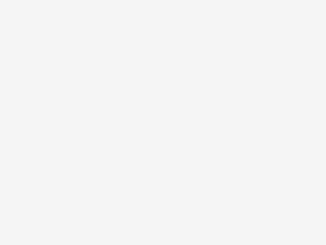Trata-se de um projeto inovador que conta com o respaldo do Instituto Amazônico do Planejamento, Gestão Urbana e Ambiental (Iagua).
Um dos responsáveis pelo programa, o antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), explicou à Agência Efe que se trata de uma Nova Cartografia Social.
Nela se pretende recolher a identidade tradicional de grupos indígenas e outros coletivos, “invisíveis socialmente” e que vêem seus territórios ameaçados diante do avanço da agricultura não-autóctone, disse.
Almeida, que participou em Barcelona do fórum “Amazônia ferida – é possível um desenvolvimento sustentável?”, disse que os membros dessas comunidades foram instruídos no uso dos sistemas de localização por satélite para que confeccionem seus mapas.
São trabalhos cartográficos muito minuciosos, feitos por eles mesmos com coordenadas e um grau de precisão exato, onde marcam o que acham relevante em suas terras, de cultivos a lugares arqueológicos e sagrados, povoações, cemitérios ou pontos de venda de gasolina.
Eles marcam elementos práticos, mas também simbólicos que ajudam a reforçar sua identidade coletiva.
Por isso, os mapas são bilíngües, trilíngües ou escritos em quatro idiomas (o português e as línguas autóctones), já que, no território, são faladas mais de 180 línguas que sobreviveram.
Com esta cartografia social, há a tentativa de acabar com certo tipo de biologismo, alimentado durante séculos apenas pelos conhecimentos de naturalistas viajantes, geógrafos e botânicos que criaram uma “hegemonia de classificação”.
Essa hegemonia interpreta a Amazônia como um recurso natural e, só em um segundo plano, como um espaço onde vivem comunidades humanas próprias.
O projeto está gerando um conflito de interesses e também judicial entre as comunidades que vivem na região – cerca de 35 milhões de pessoas -, que pedem direito ancestral sobre as terras, e as grandes corporações agrícolas que as exploram e que apresentam “supostos documentos” de propriedade sobre elas.
“Não importa o tempo de ocupação. Estas comunidades foram retiradas de suas terras originais”, afirmou Almeida sobre o aumento da “invasão especulativa” devido à alta do preço das matérias-primas (soja, cana-de-açúcar, carvão vegetal para siderurgia), além da exercida pelo setor de criação de gado.
Entre os grupos mais ativos estão as comunidades indígenas (aproximadamente 734 mil pessoas) que reivindicam 110 milhões de hectares e os quilombolas (cerca de 2 milhões) que exigem seus direitos sobre 30 milhões de hectares.
Além deles, as quebradeiras de coco (400 mil famílias) exigem 20 milhões e os seringueiros (163 mil) defendem “seus” 18 milhões de hectares.
Há também antigas comunidades de europeus que vieram para o Brasil, como os pomeranos, que chegaram ao país no século XIX procedentes da Pomerânia – um território que agora é dividido entre Alemanha e Polônia – e já se transformaram em um povo tradicional, com 150 mil pessoas que continuam falando sua língua materna.
Os que são contra este projeto social consideram que se trata de uma população muito reduzida para ocupar uma superfície tão extensa, mas, de acordo com Almeida, é justamente essa baixa densidade que permite que as terras da região sejam mais bem preservadas: “eles retiram pouco a pouco e a natureza repõe”, concluiu.
(Fonte: Yahoo!)