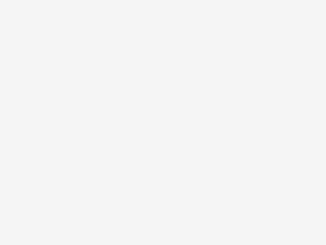Logo na entrada de uma nova exposição sobre a história da moda no Victoria and Albert Museum (V&A), em Londres, algumas peças se destacam, como uma capa negra feita de penas de galo retorcidas, um símbolo de status exibido pelas damas da alta sociedade francesa na segunda metade do século XIX. Podia ser combinada com um chapéu enfeitado com um rabo de raposa. Chama a atenção também um vestido de fino algodão branco, do mesmo século, decorado com o que parecem ser pequenas esmeraldas. Os pontos verdes metálicos, na verdade, são 5 mil asas de besouro. Para segurar as estruturas internas das saias armadas, um material essencial era a barbatana de baleia, animal dizimado na Europa naqueles tempos. Há ainda um par de brincos de 1870 — acessório muito popular na época — feito com a cabeça decepada de saíras-beija-flor.
Mais do que uma nova mostra para hipnotizar fashionistas, a exposição Fashioned from Nature (Formado a partir da Natureza, em tradução livre) coloca no centro de um dos mais importantes museus do mundo uma discussão que vem ganhando força como movimento social e extrapolando os ateliês de alguns poucos designers genuinamente preocupados com o futuro do planeta. As 300 peças exibidas — algumas delas propositalmente mórbidas — cobrem 400 anos de uma história inquietante e estimulam a reflexão sobre a simbiótica ligação entre moda e meio ambiente. A primeira, desde sempre, inspirou-se e explorou o segundo, uma complexa relação que pode tanto ter beleza quanto brutalidade.

À medida que se expandia, acompanhando as evoluções tecnológicas que baixavam os preços e massificavam a produção, a indústria têxtil deixava um rastro de destruição para produzir tecidos, estampas, cores e fibras sintéticas à base de agentes químicos que contaminam o solo, o ar e a água. A fabricação em massa mantém o segmento da moda na lista dos cinco mais poluentes do século XXI. Como impedir a continuação desse estrago, como rios tingidos de azul, e o que podemos aprender com um passado de degradação são as perguntas que os curadores da exposição na capital britânica querem instigar. Para isso, uniram-se a uma onda que usa as redes sociais para aumentar a conscientização do impacto tantas vezes invisível da moda.
A abertura da mostra coincidiu com o quinto aniversário de uma tragédia que deixou claro o valor humano nessa equação marcada pela exploração descontrolada de recursos e mão de obra, principalmente em países menos desenvolvidos. Em abril de 2013 o prédio Rana Plaza desabou em Bangladesh, soterrando 1.138 pessoas. Havia cinco fábricas de roupas no edifício condenado, empregando em sua maioria jovens mulheres sem condições mínimas de trabalho. Elas costuravam para grandes marcas do varejo internacional que se ancoram no conceito de fast-fashion, que possibilita a troca contínua e a jato de suas coleções por preços acessíveis.
A catástrofe levou duas designers britânicas, Carry Somers e Orsola de Castro, a fundar um movimento que já se espalha por mais de 100 países, o Brasil entre eles. O Fashion Revolution mobiliza milhões de pessoas — se somados os participantes de seus eventos, como desfiles e workshops, e o público que compartilha seus posts e acessa seus vídeos alarmantes nas mídias sociais. O manifesto do grupo conclama as grifes a ser mais transparentes e a assumir a responsabilidade pela cadeia de produção das roupas. Ao mesmo tempo, pede o envolvimento da sociedade para aumentar a pressão sobre uma indústria que emprega 75 milhões de pessoas, sendo 80% mulheres entre 18 e 35 anos.
A campanha se traduz numa hashtag que não tem o poder incendiário de um #MeToo, mas vem aumentando exponencialmente sua presença nas redes. Os consumidores fotografam uma peça e perguntam às marcas quem a produziu, postando a hashtag #whomademyclothes (quem fez minhas roupas?). Com a adesão de celebridades e influenciadores digitais, cada vez mais as empresas se sentem na obrigação de responder. A reação vem em forma de fotos dos trabalhadores que participaram de alguma forma da produção, sempre segurando a mensagem “Eu fiz suas roupas”, sejam eles agricultores, tintureiros, tecelões, bordadeiras ou fiandeiras.
Se a internet sozinha não faz uma revolução, a campanha ajuda a humanizar um modelo de produção nem sempre construído sobre bases éticas, dando um rosto a quem está por trás das máquinas. Segundo os organizadores do movimento, só neste ano a Fashion Revolution Week — originada em Londres e hoje copiada mundo afora — rendeu 2 mil artigos na imprensa mundial em abril e alcançou 250 milhões de pessoas nas mídias sociais.
“Nossa maior satisfação é o aumento crescente da resposta por parte das marcas ano a ano, mostrando que os trabalhadores dessa cadeia estão participando dessa conversa”, disse Orsola de Castro. Castro também admitiu que, embora muita coisa tenha mudado desde a desgraça do Rana Plaza, um cenário global de respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente ainda é um sonho. “Houve avanços em termos de iniciativas jurídicas para garantir uma cadeia produtiva mais saudável e ética. Desde a tragédia, 1.300 fábricas foram inspecionadas, e 800 delas tiveram suas condições melhoradas, mas os incidentes continuam. O ano de 2017 foi declarado o mais fatal para os operários de confecções em Bangladesh”, lembrou a ativista.
Além de expandir a discussão sobre responsabilidade social na cadeia de fornecimento, o movimento potencializa a voz de estilistas que são o destaque da segunda parte da mostra do V&A, dedicada a celebrar os nomes que há tempos exigem mudanças. Gente como Stella McCartney, uma das primeiras designers internacionais a banir o uso de couro, pele de animais e penas naturais em suas criações. No mês passado, ela comprou 50% das ações de sua empresa da Kering, gigante do mercado de luxo, tornando-se dona exclusiva da própria marca. O negócio devolveu à filha de Paul McCartney o controle total sobre todas as etapas da produção de suas coleções, que só utilizam materiais orgânicos ou reciclados.
O poder do sobrenome de Stella — que sempre lembra quanto já foi ridicularizada por ser vegetariana quando isso ainda não era modismo — é imbatível. Ela não é, porém, a única a pensar na moda do futuro. A dama do punk, Vivienne Westwood, é uma guerrilheira nesse sentido, enquanto Katharine Hamnett, famosa por suas camisetas de protesto, 30 anos atrás já pedia um consumo consciente com sua coleção ecológica radical Clean up or die (Limpar ou morrer). As duas britânicas são homenageadas por seu ativismo na exposição em Londres, na qual a inovação brasileira é representada pelas peças de couro de pirarucu fabricadas de forma sustentável pela Osklen. Já a italiana Vegea desponta com a confecção de couro feito de bagaço de uva. Ao produzir seus vinhos, a Itália descarta 7 milhões de toneladas de resíduos. Depois de passar por um processo de secagem, parte desse lixo está virando roupas e acessórios nas mãos do designer Tiziano Guardini.
Embora essas etiquetas sejam inacessíveis para a maioria dos consumidores, iniciativas nessa linha servem de inspiração para quem não quer ser classificado como atrasado — ou pior, medieval, para usar um adjetivo empregado por McCartney — num mercado altamente competitivo, seja no segmento de luxo ou no popular. O fortalecimento do pequeno produtor, o reaproveitamento de tecidos de fibras naturais, o casamento de tecnologia 3D com bioeconomia para reimaginar materiais como sedas e rendas são assuntos que hoje encontram espaço em eventos onde o mundo fashion se dispõe a pensar além das it-bags.
A jornalista inglesa Olivia Peacock, defensora das práticas sustentáveis, enxerga uma série de avanços nos últimos anos, mas é uma transformação lenta. Sem a mudança de comportamento da própria população, fica difícil falar em revolução. “O desastre do Rana Plaza serviu de alerta para a indústria, e isso provocou medidas para garantir que algo assim não aconteça novamente. Quando se trata de hábitos de consumo, porém, continuamos comprando mais roupas do que nunca. Os americanos compram três vezes mais do que há 50 anos”, disse ela, uma entusiasta da campanha #whomademyclothes. “É preciso muito mais que uma hashtag para transformar toda uma indústria, mas essa tem sido uma das mais influentes iniciativas para a conscientização do público. Algumas das maiores marcas do setor começaram a responder, e o número de envolvidos cresce a cada ano. Está funcionando”, afirmou.
Para a especialista, trata-se de desenvolver uma compreensão mais profunda das roupas, cuidar para que elas durem e dividir os gastos entre marcas que investem em linhas de produção sustentáveis. Nas mais prestigiadas universidades de Londres, centros de pesquisa de design formam novas gerações de criadores que já pensam a moda como arte e negócios de forma alternativa. Na semana passada, alunos do London College of Fashion da Universidade das Artes de Londres (UAL) espalharam caixas de coleta de garrafas PET entre as passarelas da Semana de Moda masculina. A capital britânica tem um dos piores índices de reciclagem de produtos plásticos do país, e os estudantes se juntaram à Prefeitura na campanha para reduzir o consumo dessas garrafas. Eles reaproveitarão o material recolhido para produzir tecidos com a ajuda de uma tecnologia desenvolvida pela grife Vin + Omi.

A etiqueta, que transforma plástico em lã, é uma das expoentes do slow-fashion — outro movimento global que vai extrapolando, aos poucos, os fóruns de ecologistas. O termo foi criado pela inglesa Kate Fletcher, professora do Centro de Moda Sustentável da UAL. Inspirado no slow-food, é uma reação direta ao fast-fashion, desafiando a maneira como olhamos para nosso guarda-roupa. A filosofia é a do consumo consciente, que incentiva a reflexão sobre o impacto da indústria da moda sobre o meio ambiente e os trabalhadores.
Pioneiros como a escritora e estilista australiana Jane Milburn atraem milhares de seguidores pregando a mensagem de que “roupa velha é o novo orgânico e remendar é bom para a alma”. Costurar remendos propositalmente visíveis em peças que seriam descartadas está virando mania on-line. Na publicação acadêmica Journal for Fashion Criticism, a prática é celebrada como “uma expressão poética da beleza na imperfeição”.
São inúmeros os posts no Instagram com a hashtag #visiblemending (remendo visível). Em Londres, é fácil achar workshops que ensinam a técnica. Quanto mais aparentes forem os pontos dos retalhos, melhor. Casaco furado pode ser um ato político. O risco é a rebeldia ser glamourizada, virar tendência, e as tais peças remendadas acabarem nas araras, como aconteceu com o punk e o grunge, que um dia nasceram como forma de protesto.
Fonte: Época