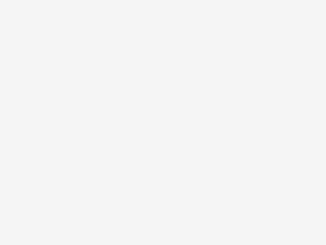Membros de uma organização missionária cristã próxima à ministra Damares Alves participarão nesta semana de uma viagem organizada pelo governo federal ao território de um dos povos indígenas com menos laços com a sociedade brasileira majoritária: os suruwahás, do Amazonas.
O governo diz que a viagem busca sanar uma “crise de saúde mental” que teria causado cinco suicídios entre os indígenas em 2019. A etnia, também conhecida como zuruahã, soma pouco menos de 200 integrantes.
Comporão a equipe duas indígenas ligadas à Jocum (Jovens com uma Missão), entidade missionária de origem americana que já foi expulsa do território suruwahá “em função de atividades proselitistas e discriminatórias”, segundo o Ministério Público Federal (MPF).
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, diz que essas indígenas, Muwaji e Inikiru Suruwahá, trabalhão como intérpretes. Ambas foram retiradas da aldeia por missionários da Jocum há 14 anos. Desde então, uma delas se tornou missionária evangélica, e a outra se engajou em campanhas promovidas pela organização.
A viagem, entre os dias 12 e 22 de fevereiro, é uma iniciativa do ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado por Damares, e da Sesai.
Procuradores da República, uma doutora em Psicologia e antropólogos criticaram a presença das integrantes da Jocum na expedição, alertando que a entidade pode deturpar os objetivos da viagem e lhe dar um caráter religioso. Antropólogos questionam ainda a existência de uma crise de saúde mental entre o povo.
Eles argumentam que, para os suruwahás, o suicídio é bastante comum e não tem a mesma conotação que para outras populações, e dizem que a comunidade jamais solicitou qualquer intervenção do governo sobre o tema.
O embate expõe as tensões associadas ao trabalho missionário entre povos indígenas e ocorre dias após a nomeação do antropólogo e ex-missionário evangélico Ricardo Lopes Dias para a chefia do órgão da Funai responsável pela proteção a indígenas isolados e de recente contato. A viagem, no entanto, já estava agendada antes da nomeação de Dias.
O caso também joga luz no debate sobre os limites entre a autonomia dos povos indígenas e o ímpeto do Estado de intervir em condutas dos grupos que considera nocivas.

Perguntas não respondidas
Questionado repetidas vezes sobre a expedição, o Ministério da Saúde enviou uma nota curta à BBC News Brasil na qual diz que uma “uma equipe interministerial dos ministérios da Saúde e da Mulher, Família e Direitos Humanos se deslocará ao território do Povo Suruwahá para avaliação e monitoramento de saúde mental”.
“Trata-se de uma equipe técnica, com dois intérpretes, não sendo composta pela secretária (da Sesai) Silvia Waiãpi”, disse o órgão.
Já o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disse que nenhum membro da pasta participará da viagem.
Os ministérios não responderam por que duas pessoas ligadas à Jocum trabalharão como intérpretes nem comentaram o controverso histórico da entidade. Tampouco responderam se a comunidade havia concordado com a visita e não se posicionaram sobre a noção de suicídio entre os suruwahás.
Na semana passada, o Ministério Público Federal no Amazonas enviou um ofício à Sesai questionando quais “as medidas adotadas para impedir a prática de proselitismo religioso” na visita. O órgão cobrou ainda a Sesai a seguir os protocolos de quarentena exigidos em atividades junto a indígenas de recente contato, que são mais vulneráveis a doenças contagiosas.
Vida entre missionários
A presença de Muwaji e Inikiru na expedição foi citada em documentos da Sesai sobre os preparativos da viagem, aos quais a BBC News Brasil teve acesso. Os documentos dizem que a viagem busca sanar uma “crise de saúde mental” que seria a causa de vários suicídios recentes no grupo.
As indígenas voarão de Brasília até a cidade de Lábrea (AM), de onde seguirão até o território suruwahá na companhia de outros profissionais.
Muwaji e Inikiru foram retiradas da comunidade por um casal de missionários da Jocum, Edson e Márcia Suzuki, em 2006 e 2007, respectivamente. Desde então, passaram a morar com famílias de missionários e perderam o contato com o seu povo.
Inikiru tinha 9 anos quando deixou a aldeia rumo à cidade. Hoje com 22 anos, ela mora com uma família que chefia a base da Jocum na Chapada dos Guimarães (MT) e se tornou, ela própria, missionária.
Em janeiro, Inikiru fez uma vaquinha online para financiar uma viagem missionária à Turquia. No texto em que pede doações, Inikiru diz vir “de um povo isolado, onde eles cometem suicídios por falta de esperança”.
“Esperança, para mim, é falta do Evangelho — eu creio que o meu povo vai ser resgatado pela palavra da verdade do Evangelho”, prossegue a indígena.
Inikiru diz então que, “em busca de levar essa palavra ao meu povo”, frequentou uma Escola de Treinamento e Discipulado (Eted), espécie de curso de formação para missionários. A BBC News Brasil contatou Inikiru, mas ela não quis dar entrevista nem comentar a viagem para o território suruwahá.
Linguistas e missionários
Edson e Márcia Suzuki se aproximaram dos suruwahás pela primeira vez em 1985 para estudar sua língua. Em 1997, segundo um documento da Funai, a dupla passou a realizar “de modo aberto uma nova fase de indoutrinação religiosa de tipo fundamentalista” na comunidade.
Em 2006, os dois foram contratados como intérpretes pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para acompanhar Muwaji e sua filha, Iganani, diagnosticada com retardo de crescimento e desenvolvimento, até Brasília, onde a menina receberia tratamento médico.
No ano seguinte, o casal voltou ao território suruwahá. Desta vez, ao regressar a Brasília, a dupla também levou Inikiru e outro filho de Muwaji, Ahwari, na época com 12 anos. “Tudo, convém destacar, sem qualquer autorização por parte da Funai ou da Funasa”, diz o documento.
Questionada pela BBC News Brasil sobre o motivo da viagem, a Jocum disse que caberia à Sesai responder. “A Jocum tem contato com o povo Suruwahá há mais 25 anos. A instituição trabalhou na tradução da língua e já foi parceira, inclusive da Funai, em alguns projetos, incluindo tradução”, disse uma nota enviada pela chefe da organização em Porto Velho, Cleonice Larsson.
Sobre a presença de Muwaji e Inikiru, disse que “ambas são indígenas suruwahá, falam a língua e certamente a equipe técnica ponderou a necessidade de ambas integrarem a equipe”.
Lei Muwaji
Em entrevistas e textos que publicou na internet, Márcia Suzuki afirma que, se Iganani voltasse a morar na aldeia, seria morta, já que, segundo a missionária, os suruwahás têm o costume de sacrificar crianças que nascem com deficiência. Por isso, diz ela, Muwaji resolveu ficar com a filha na cidade.
A mãe acabou dando seu nome ao Projeto de Lei 1.057/2007 (“Lei Muwaji”), que estabelece penas para agentes públicos que deixem de agir para evitar que crianças indígenas sejam mortas por terem deficiência, serem fruto de gestações múltiplas, terem marcas de nascença ou não serem assumidas por um dos genitores, entre outras situações.
O projeto foi fortemente apoiado pela Jocum e pelo Movimento Atini-Voz Pela Vida, que teve entre seus fundadores Damares Alves e o casal Márcia e Edson Suzuki. Muwaji defendeu a proposta no Congresso, e seu rosto passou a estampar campanhas favoráveis à iniciativa.
O projeto é de autoria do então deputado federal Henrique Afsonso (PT-AC), que disse mirar “práticas tradicionais nocivas, as quais se encontram presentes em diversos grupos sociais e étnicos do nosso país, (e) não podem ser ignoradas por esta Casa (a Câmara)”.
Já organizações de antropólogos e do movimento indígena afirmam que o projeto de lei estigmatiza os povos nativos ao associá-los a práticas extremamente raras e que também ocorrem em outras sociedades, mas não são citadas na proposta.

Damares e o casal Suzuki
Damares abraçou o projeto de lei desde o início e trabalhou pela sua aprovação em duas frentes. No Congresso, a então assessora parlamentar ajudou a angariar apoios ao texto entre congressistas evangélicos.
E, em 2006, Damares ajudou a fundar, junto com o casal Suzuki, da Jocum, o Movimento Atini-Voz Pela Vida, que diz ter o objetivo de “prevenir o infanticídio” em comunidades indígenas. Em seu site, a Atini diz que Damares deixou a organização em 2015.
O movimento diz ter salvado várias crianças desde sua criação. Uma delas é Lulu Kamayurá, menina que Edson e Márcia Suzuki retiraram de uma aldeia no Xingu e hoje mora com Damares, que a trata como uma filha.
A mobilização da Jocum e da Atini em favor do projeto de lei virou caso de Justiça após as organizações divulgarem um vídeo encenado no qual crianças indígenas deficientes eram enterradas vivas. O filme, chamado Hakani, dizia retratar uma “história verdadeira” encenada por “sobreviventes ou vítimas resgatadas de tentativas de infanticídio”.
Segundo o MPF, porém, a encenação usou membros da etnia karitiana, “que não tem a prática de infanticídio em sua cultura e que passou a sofrer diversas consequências negativas após o documentário”. Em 2017, a Justiça determinou que o vídeo fosse retirado do ar.
Autoenvenenamento
A expedição do governo até o território suruwahá foi criticada por Antenor Vaz e Adriana Huber, pesquisadores que já trabalharam com o grupo. Hoje coordenadora do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) — órgão ligado à Igreja Católica — em Manaus, Huber viveu entre os suruwahás de 2006 a 2011 e fez uma tese de doutorado em Antropologia sobre a prática de “autoenvenenamento” utilizada pelo grupo.
Segundo Huber, os suruwahás passaram a ingerir timbó — veneno usado em técnicas de pescaria — há cerca de um século. Na época, a invasão do território da etnia por seringueiros havia feito com que vários subgrupos suruwahás se juntassem em uma mesma aldeia. A partir dessa reorganização, a resolução de conflitos internos assumiu outra lógica.
Até então, diz ela, os embates comunitários eram mediados pelos xamãs (líderes espirituais) de cada subgrupo. Com o agrupamento, diz Huber, os xamãs perderam importância, e a ingestão de timbó assumiu o papel de mediação de conflitos.
Ela diz que os suruwahás não tomam veneno necessariamente porque querem morrer, mas para ver quais pessoas tentarão salvá-los e quem se comoverá. “Mas, às vezes, acabam falecendo acidentalmente, o que causa grande comoção na comunidade”, diz a antropóloga.
Hoje, o autoenvenenamento é principal causa de morte entre os suruwahás, responsável por mais de 80% dos óbitos entre os adultos.
Entre 1984 e 2018, segundo a Funai, houve uma média de 3,9 casos por ano no grupo. Segundo Huber, os dados mostram que os cinco casos registrados em 2019 seguem a tendência histórica e não indicam a existência de uma crise de saúde mental.
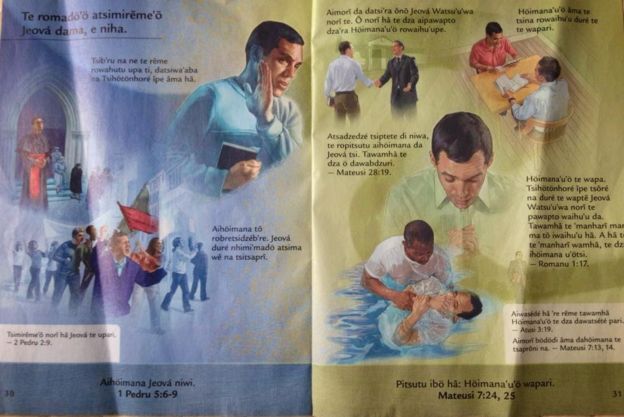
Em artigo publicado na revista Espaço Ameríndio, em 2009, os antropólogos Kariny Teixeira de Souza e Márcio Martins dos Santos dizem que, para os suruwahás, a morte por ingestão de timbó não é interpretada como um ato de covardia nem uma afronta aos desígnios divinos, mas sim um caminho respeitoso e digno para uma vida melhor.
Eles dizem que, na cosmologia do grupo, quem morre envenenado com timbó tem acesso a “um lugar de muita alegria, onde se reencontra com os antepassados e onde as pessoas não envelhecem jamais”. “Todavia, só chegam a este lugar aqueles que morrem pela ingestão do veneno. Quem morre por velhice será privado deste lugar e sua alma ficará vagando sem destino”, afirmam.
Suicídios entre outros povos
Proporcionalmente, o índice de suicídio entre os suruwahás (2.280 por 100 mil habitantes) é 373 vezes maior que a média do Brasil (6,1/100 mil) e 92 vezes maior que a média do país com a maior taxa do mundo, a Guiana (30,2/100 mil).
De maneira geral, o índice de suicídios entre indígenas brasileiros é três vezes maior que a média nacional e atinge cifras especialmente altas em algumas etnias. Um dos casos mais conhecidos é o dos guarani kaiowá, de Mato Grosso do Sul.
Porém, para Huber, o caso dos suruwahás é bem distinto do dos guarani kaiowá. Enquanto estes vivem em territórios pequenos e sob disputa contante com fazendeiros, os suruwahás “têm terra demarcada, têm bom espaço, caçam, têm soberania alimentar completa, grandes roçados, comida abundante, ou seja, têm todos os meios para viver bem na terras deles”.
Tanto é assim, diz ela, que a população suruwahá tem crescido desde que a etnia foi contatada pela primeira vez por missionários católicos, no fim dos anos 1970.
Huber diz que os suruwahás ficam chateados quando são tratados como “suicidas” e rebatem apontando para os problemas da sociedade brasileira majoritária. “Eles dizem: ‘a gente toma veneno quando está com raiva, mas vocês têm um problema imenso de partilha de riquezas e lidam com esses conflitos bebendo cachaça e se esfaqueando.”

Mais importante, diz Huber, é que “os suruwahás nunca pediram ajuda externa para lidar com essa prática e não têm ideia do que seja a função da psicologia na nossa sociedade”. Ela questiona ainda a presença das indígenas ligadas à Jocum na expedição e diz que outras pessoas poderiam atuar como intérpretes.
Huber diz que Inikiru e Muwaji “estão fora da aldeia, em processo de formação missionária, há uma década”, e critica o uso de recursos públicos para transportar “pessoas com histórico de proselitismo religioso” até o território.
Estado e missões religiosas
Para Júlio José Araújo Júnior, procurador que coordena o Grupo de Trabalho do MPF sobre Povos Indígenas e Regime Militar, o caso ilustra uma “etapa avançada da tentativa de colocar o Estado a serviço de interesses de missões religiosas”. O procurador diz que missões religiosas “manejam conceitos importantes, como a noção de dignidade humana, para favorecer a imposição de uma visão de mundo”.
Para a psicanalista Vera Iaconelli, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP), a psicanálise parte do pressuposto de que “todo sujeito tem um direito inalienável de acabar com a própria vida”, e a pior forma de lidar com quem está pensando em se matar é tratá-lo “com um discurso moralizante” próprio de várias religiões.
Ela afirma que o suicídio tem sentidos diferentes em cada cultura e que, para abordar o tema em uma comunidade indígena, é preciso “entender onde estão suas feridas e que tipo de sofrimento eles podem estar vivendo coletivamente”.
“Nesses ambientes, o psicanalista tem mais a escutar do que a falar. E não necessariamente ele precisa entrar lá: pode ser um interlocutor de pessoas de confiança da comunidade, ajudando-as a pensar essas questões.”
Para ela, convidar religiosos para lidar com saúde mental “é como chamar veterinários para cuidar de uma crise termonuclear”. “Não tem nada a ver.”
Fonte: BBC