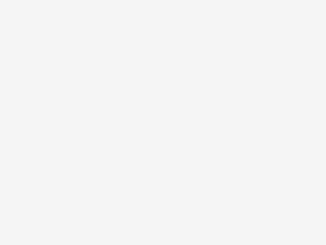FOTO DE BRIAN J. SKERRY/NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
O oceano é base de economias e meios de subsistência locais, nacionais e globais. Hoje, cerca de 28% da população mundial vive em regiões costeiras. São mais de dois bilhões de pessoas que dependem direta ou indiretamente dos ecossistemas marinhos, que fornecem aproximadamente 170 milhões de toneladas de frutos do mar por ano, cerca de 15% de toda a proteína consumida pelos seres humanos, de acordo com o Relatório Especial sobre o Oceano e a Criosfera em um Clima sob Mudança (SROCC, na sigla em inglês), produzido pelo Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), instituição que visa auxiliar na formulação de políticas públicas de proteção dos mares.
Mas além de fonte de alimento, energia, lazer e até matéria-prima de compostos medicinais, os oceanos exercem papel fundamental na regulação do clima global, absorvendo CO2 e calor da atmosfera e evitando um aquecimento ainda maior. Através da circulação oceânica, o calor é distribuído dos trópicos para os polos e o fundo do mar, determinando os padrões de chuvas e as temperaturas da superfície, que, por sua vez, influenciam climas regionais. Os mares também circulam nutrientes que alimentam diferentes formas de vida marinha. Se hoje existe vida na Terra, é graças à quantidade de oxigênio produzida pelos oceanos e liberada na atmosfera – cerca de 70% do total. Mesmo assim, só ganharam relevância há 50 anos, depois de se tornarem a principal fonte de petróleo em todo o mundo. Ao mesmo tempo, começaram a surgir movimentos de conscientização e proteção dos mares e seus ecossistemas.
“Até então, eram raros os institutos de pesquisa oceanográfica que se dedicavam à investigação dos oceanos. A partir dos anos 1960 e 1970 novos centros de oceanografia surgiram pelo mundo e tornaram a ciência oceanográfica uma realidade, e uma necessidade, para compreendermos nosso planeta e como manejá-lo da melhor forma”, avalia Marcos César de Oliveira Santos, coordenador do Laboratório de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos e professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP). “Em paralelo, movimentos conservacionistas se fizeram presentes globalmente com a preocupação intrínseca sobre os efeitos de nossas ações sobre a natureza e as consequências para nossa saúde e bem-estar.”
Pesquisas sobre os efeitos das mudanças climáticas começaram a ganhar espaço justamente nesse contexto. Após longos debates e estudos, principalmente na última década, o IPCC já reconhece como cientificamente comprovadas algumas consequências da crise climática nos oceanos. Entre elas estão o aumento da temperatura das águas superficiais; o derretimento de gelo polar com consequente aumento do nível do mar, ameaçando populações costeiras; alterações de temperatura de correntes marinhas com efeitos no transporte de nutrientes e na produção de oxigênio; e mudanças nos ciclos oceânicos que potencializam fenômenos como o El Niño e suas desastrosas consequências. O aumento de frequência e intensidade de eventos extremos como furacões e tufões e a acidificação nos oceanos também entram na lista – águas mais ácidas afetam significativamente os recifes de corais, ecossistemas indispensáveis para manter o equilíbrio dos oceanos.

FOTO DE BRIAN J. SKERRY/NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
“Esses sistemas são sustentados por uma sensível interação entre espécies que têm limites estreitos de tolerância à variação da acidez da água do mar. Como consequência, temos o fenômeno que conhecemos como branqueamento e até a morte dos corais”, explica Santos. “Vale lembrar que os recifes de corais são oásis de diversidade de espécies, gerando bens e serviços para uma parcela considerável da população humana que depende desses ecossistemas para sobreviver.”
Em 2019, uma forte onda de calor no mar causou um branqueamento em massa de corais em vários pontos da costa brasileira. “No Atol das Rocas, a primeira área marinha protegida do Brasil e que tem pouquíssima interferência humana, cerca de 88% das colônias de corais branquearam, a maior incidência já registrada para o local”, conta a pesquisadora Anaide Wrublevski Aued, da Universidade Federal Fluminense. Para alívio dos cientistas, os recifes conseguiram se recuperar e, meses depois, as colônias voltaram a apresentar a coloração natural.
Aued é a responsável técnica pela Pesquisa Ecológica de Longa Duração das Ilhas Oceânicas do Brasil, projeto que reúne cerca de 80 pesquisadores de 10 instituições do país. Criado em 2013, ele monitora os recifes de corais e outras espécies como tubarões e garoupas na ilha de Trindade, no Atol das Rocas e nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo e de Fernando de Noronha – este último, o único com atividade turística permitida. Os locais foram escolhidos por serem considerados laboratórios evolutivos naturais – por estarem distantes da costa, apresentam grande incidência de espécies endêmicas e favorecem o surgimento de outras novas. Como sofrem menos interferência humana, a verificação de possíveis efeitos da crise climática global é mais certeira.

FOTO DE PAUL NICKLEN/NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
Outra preocupação dos cientistas é a vulnerabilidade dos estoques pesqueiros sob impacto das mudanças climáticas. Uma das previsões é a migração de cardumes para regiões mais frias, o que poderá levar à extinção local de espécies de peixes de elevado interesse econômico. A produção agrícola também pode ser afetada. “Em termos humanos, o desbalanço climático pelos oceanos pode fazer com que regiões altamente importantes para agricultura deixem de ter a chuva necessária, provocando prejuízos severos para as pessoas e a economia do país”, explica Alexander Turra, professor do IO-USP e responsável pela Cátedra Unesco para Sustentabilidade dos Oceanos. “É fundamental ter planos não só setoriais econômicos, mas também estratégicos de governo para minimizar prejuízos e ampliar benefícios sob o ponto de vista de entender as mudanças climáticas como oportunidade.”
Proteção Ameaçada
Não é possível pensar em alterações nos sistemas climáticos sem antes compreender profundamente o funcionamento dos oceanos, seus processos biofísicos e as interações de seus ecossistemas. Numa tentativa de colocá-los como prioridade nos planos de mitigação e combate à crise climática, a organização da 25ª Conferência das Partes para as Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP-25), prevista inicialmente para acontecer no Chile e realizada em Madri, em dezembro de 2019, batizou o evento de Blue COP, ou COP Azul. Apesar da intenção, cientistas lamentam a falta de resultados palpáveis nas negociações.
“Infelizmente, e apesar dos oceanos estarem na agenda, não houve muitos avanços, fora o reconhecimento do papel do ecossistema marinho – nada foi aprovado até agora para protegê-los de verdade”, analisa Ricardo Aguilar, biólogo e pesquisador sênior da Oceana, uma das ONGs mais ativas na defesa dos oceanos no mundo. “Temos que aumentar a superfície da área marinha protegida em todo o globo para chegar pelo menos aos 30% recomendados por cientistas, ONGs e a União Internacional para a Conservação da Natureza.”
Se no âmbito global as medidas foram insuficientes, no nacional também desapontaram. “Os objetivos do Brasil na COP-25 deveriam estar alinhados às iniciativas tomadas inicialmente, desde o protocolo de Quioto de redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)”, diz Alexander Turra. “O Brasil atuou de forma negativa, em especial tentando eliminar os parágrafos que falavam explicitamente da relação entre os oceanos e as mudanças climáticas.” Turra acredita que o Brasil precisa atuar de maneira muito mais contundente para fortalecer uma visão sistêmica tanto para a mitigação quanto para a adaptação às mudanças climáticas. “O modo de fazer isso é aproveitar a Conferência dos Oceanos que será realizada esse ano, em Lisboa, para reafirmar compromissos voluntários que venham a ser internalizados tanto a nível nacional como regional, envolvendo o Atlântico Sul, América Latina e Caribe”, completa.

FOTO DE EDSON VANDEIRA
O pesquisador ressalta a necessidade de o Brasil colocar em prática o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima a fim de se antecipar aos impactos, em especial, nas zonas costeiras. Mas lembra que a crise climática traz também um campo de oportunidades quando pensamos em uma economia de baixo carbono. “Temos uma série de problemas econômicos que poderão ser derivados das mudanças climáticas”, diz Turra. “Mas tem outro aspecto que são as oportunidades que surgem nesse cenário e que devemos buscar como sociedade, como o desenvolvimento de tecnologias e novas formas de uso dos recurso e interação com o ambiente, que farão com que a gente emita menos e sequestre mais carbono.”
Entre as atividades econômicas promissoras está justamente a produção de energia limpa nos oceanos, seja gerada por ondas e marés ou por gradientes térmico e de salinidade, em que diferentes concentrações de calor e sal podem ser transformadas em eletricidade.
“Nas regiões costeiras isso tem que ser feito de forma alinhada à conservação e recuperação de habitats como manguezais, marismas e vegetações submersas”, alerta Turra. “Alguns movimentos que estão sendo feitos de forma a diminuir a proteção dos manguezais para cultivo de camarão, por exemplo, são totalmente contrários ao que se necessita para ampliar a capacidade dos oceanos de auxiliar o planeta nessa trajetória de uma economia de baixo carbono.”
Florestas azuis: os grandes produtores de oxigênio
As florestas azuis são ecossistemas de vegetação marinha e costeira, incluindo sapais, manguezais, prados de ervas marinhas e florestas de algas. Alguns cientistas consideram ainda os fitoplânctons como a principal floresta azul global. Embora ocupem menos de 10% da área de florestas terrestres, podem estocar a mesma quantidade de carbono. Essa vegetação aquática fornece uma série de serviços ecossistêmicos vitais para outras espécies e para o homem. Estima-se que produzam metade de todo o oxigênio disponível na Terra.
“Esses habitats marinhos são fundamentais para a dinâmica ecológica do oceano, fornecendo substrato, matéria orgânica, alimentos, refúgio e áreas de desova para muitas espécies, mas também mantendo o equilíbrio químico do oceano”, pontua Ricardo Aguilar, da Oceana. “Alguns são conhecidos por absorver e fixar enormes quantidades de CO2, como o plâncton, os prados de ervas marinhas e as florestas de algas. O oceano armazena mais de 39 mil gigatoneladas de carbono, 20 vezes mais que a vegetação terrestre.”
Já afetadas por outras tantas ações humanas como poluição, sobrepesca, erosão, tráfego marítimo e o aumento de estruturas humanas nas encostas, as florestas azuis sofrerão os efeitos da crise climática. “Nem toda a floresta azul reagirá da mesma maneira ao aquecimento global. Embora os prados de fitoplâncton ou ervas marinhas possam ser fortemente afetados, algumas algas marrons podem se beneficiar dessas mudanças climáticas e químicas, expandindo sua distribuição no curto prazo”, avalia Aguilar. “No entanto, águas mais quentes levam à diminuição de produtividade [de oxigênio] de algumas algas importantes. As algas calcárias deverão sofrer as piores consequências – por causa do aumento da acidificação, não conseguirão construir suas estruturas, o que levará a significativas reduções, semelhantes aos corais.”
Estudo publicado pela revista Scientific Reports, analisou amostras de espécies de plânctons coletadas em 1872 e comparou com amostras atuais da mesma região do Pacífico. O resultado revelou estruturas, em média, 76% mais finas nas amostras recentes. As alterações foram atribuídas a mudanças nos níveis de acidificação oceânica provocadas pela emissão de poluentes na atmosfera.
Para Aguilar, é fundamental que exista um plano específico de proteção desses ecossistemas. Segundo estudos da Oceana, entre 1% e 7% dos bosques de algas são perdidos a cada ano. “Precisamos desenvolver um plano mundial para as florestas azuis de preservação, restauração e mapeamento desses ecossistemas únicos que podem desempenhar um papel importante na luta contra as mudanças climáticas”, completa Aguilar.
Baleias e golfinhos: os fertilizadores dos mares
Se os oceanos são enormes jardins aquáticos produtores de oxigênio e armazenadores de dióxido de carbono, os cetáceos, grupo de mamíferos que inclui baleias e golfinhos, são os jardineiros. Ao longo de mais de 50 milhões de anos de evolução, esses animais carismáticos desempenharam papéis fundamentais para a estruturação e manutenção dos oceanos.
“Atualmente, são cerca de 90 espécies [de cetáceos] encontradas em todas as bacias oceânicas, dos polos aos trópicos, e em quatro bacias de água doce na América do Sul e na Ásia”, explica o professor do IO-USP Marcos César de Oliveira Santos. “Desse total, 47 espécies já foram reportadas em águas brasileiras com padrões de ocorrência variando entre residentes [presentes o ano todo], migradores [visitantes ocasionais] e exploradores [raras visitas pela costa].”
Por se tratar de espécies do topo da cadeia alimentar, geralmente têm dietas diversificadas, mantendo o equilíbrio das populações de suas presas. Mas o maior serviço prestado por esses mamíferos marinhos é a fertilização dos oceanos por meio das fezes, contribuindo para o enriquecimento do teor de nitrogênio e criando um ambiente ideal para proliferação de organismos, em especial algas e fitoplâncton. Uma única baleia-azul pode defecar até três toneladas por dia, uma carga considerável de nutrientes.
Até o final do século 19 as baleias foram caçadas incessantemente, sempre com fins comerciais, como alimento ou por seu óleo, utilizado como combustível para iluminação e aquecimento de ruas e casas. Populações baleeiras foram praticamente dizimadas. “A ausência de centenas de milhares de baleias nos oceanos implicou em uma drástica redução na fertilização e tanto a produção de oxigênio, quanto a absorção de CO2 pelos oceanos foram afetadas”, diz Santos. “A lenta recuperação dos estoques de baleias após a redução da caça em todo o mundo é um importante sinal, elas têm muito mais valor vivas. Quanto mais baleias, mais oxigênio pode ser gerado, mais carbono pode ser absorvido nos oceanos. Devemos, portanto, investir em planejamentos de conservação mundiais dos estoques de cetáceos”.
E é preciso agir rápido. Baleias e golfinhos já vêm respondendo às mudanças climáticas globais. Há estudos que apontam para mudanças de frequência de determinadas espécies, no Ártico, por exemplo. “Algumas populações de narvais, belugas e de baleias-da-groenlândia, bastante sensíveis ao aquecimento das águas polares, estão mudando suas áreas de uso para regiões mais frias ao norte, onde ocorrem orcas”, conta Santos. “Lidar com a presença das orcas nessas áreas pouco conhecidas para essas espécies tem gerado fugas para águas mais rasas onde encalham ou morrem emaranhadas nas estruturas humanas de cultivo de peixe.” Segundo o professor, outras espécies como baleia-azul, fin e jubarte passaram a ocupar essas áreas abandonadas pelas espécies que se mudaram para o norte, causando desequilíbrios sem precedentes em um ecossistema onde as teias alimentares levaram milhões de anos para se estabelecerem.
Antártida: clima com efeitos diretos no Brasil
Em 1959, em Washington, capital dos Estados Unidos, foi negociado o Tratado Antártico, que entrou em vigor em 1961. O objetivo do acordo multilateral era permitir que os países utilizassem o continente Antártico para fins pacíficos, sem extração comercial, com liberdade para pesquisas científicas e cooperação, o que acontece até os dias atuais. Desde 1975 o Brasil é signatário do tratado, que não delimita territórios e estabelece que nenhum país é soberano – cada nação pode ocupar livremente espaços na região.
“Às vezes, até países que têm problemas geopolíticos dividem espaços comuns e de forma harmônica”, comenta Luciano Ponzi Pezzi, meteorologista e pesquisador do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe). “Por causa do tratado, muita coisa lá está intocada, em termos até de biodiversidade. É uma região cobiçada devido ao petróleo e aos metais em seu solo, mas muito frágil.”
Pezzi estuda a Antártida, com foco na zona de confluência Brasil-Malvinas, desde 2005. “É uma região peculiar do Atlântico Sudoeste, é o nosso quintal”, explica. “O que ocorre ali é o encontro de duas grandes correntes: a do Brasil, quente [cerca de 18°C] e mais salina, que desce de norte para o sul paralelamente a costa brasileira e a das Malvinas, que é mais fria [6 a 8°C] e menos salina. Nesse encontro há uma confluência que vai em direção ao mar aberto, formando a frente subtropical.” Os estudos mostraram que o encontro entre essas correntes marinhas modula toda a atmosfera, desde os ventos na superfície até a alta toposfera.
Os cientistas também estudam alterações na espessura e na extensão do gelo marinho na Antártida provocadas pelo aumento da temperatura no planeta e que podem ocasionar mudanças nas trilhas de tempestades – os caminhos preferenciais dos ciclones extratropicais que são formados ali. Em meados de fevereiro de 2020, a região registrou a temperatura recorde de 18,3°C, 0,8 graus a mais do que 2015, até então a maior desde o início das medições em 1961. Os dados foram obtidos pela estação argentina Esperanza, no extremo norte da península.
Um estresse significativo como a crise climática global em um local como a Antártida pode refletir no clima de todo o mundo. “Daí a importância de se estudar cada vez mais essa região, mesmo sendo um continente remoto e distante”, continua Pezzi. “É importante entender a origem dos processos, como eles se transformam ao longo do tempo e espacialmente, à medida em que viajam da Antártica para a América do Sul, pois é uma influência direta no clima do Brasil.”
Resta encarar com urgência a maior crise ambiental da nossa história com embasamento científico e vontade política. Compreender as mudanças climáticas sob todas as suas formas e atuações em sistemas complexos e integrados da natureza e buscar a real sustentabilidade do planeta é, hoje, o único caminho possível para a nossa sobrevivência.
Fonte: Adele Santelli – National Geographic