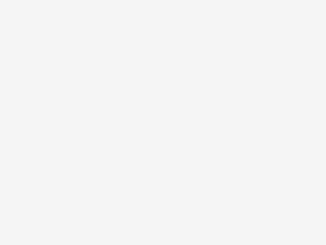O avião inclinou bastante para a direita. Quando fizemos um primeiro sobrevoo na pista — ou melhor, no pequeno trecho de terra acidentada na tundra ártica que serviria de pista — um alarme soou, as luzes vermelhas acima das saídas de emergência começaram a piscar e o som dos motores da aeronave rugindo de volta à ação tomou conta da cabine principal. Meu estômago embrulhou.
Foi uma apresentação emocionante ao extremo norte de Quebec, no Canadá, uma região conhecida como Nunavik.
Abrangendo o terço superior da província canadense (maior que o estado americano da Califórnia e duas vezes o tamanho da Grã-Bretanha), do qual faz parte a península de Ungava, esta região é desconhecida pela maioria das pessoas. Mas nem sempre foi assim.
Em 1950, esta área foi estampada em jornais de todo o mundo e considerada a oitava maravilha do mundo.
Não por causa da sua natureza selvagem, tampouco devido a qualquer estrutura feita pelo homem, mas graças à distinta característica do terreno que eu estava agora sobrevoando rumo a outra tentativa de pouso na pista: a Cratera Pingualuit.
“O nome é inuktitut para as manchas ou espinhas na pele causadas pelo clima muito frio”, explica Isabelle Dubois, coordenadora de projeto da Nunavik Tourism, que anteriormente só tinha visitado a cratera no inverno, quando a paisagem estava coberta de neve.
Olhei pela janela do avião para me distrair durante a nossa segunda tentativa de pouso e pensei em como era um apelido adequado.
A tundra aqui é marcada por fendas, fissuras e depressões cheias de pequenos bolsões de água.
No entanto, em meio às inúmeras reentrâncias, a cratera de mesmo nome se destaca significativamente.
Com um diâmetro de cerca de 3,5 km e uma circunferência bastante superior a 10 km, não era apenas o seu tamanho que a distinguia, mas também sua simetria.
Quase perfeitamente circular e cheia de água, a cratera parecia um espelho compacto no chão, no qual nossa minúscula aeronave Twin Otter agora estava refletida, parecendo nada mais que uma minúscula partícula de poeira.
Após alguns solavancos, mais alarmes de alerta e uma parada repentina e dramática, finalmente pousamos, a apenas alguns quilômetros da borda desta cratera.
Ficamos no acampamento Manarsulik, um conglomerado de cinco cabanas com energia solar, que é o acampamento base oficial de qualquer um que se aventure no Parque Nacional Pingualuit, um dos parques nacionais mais remotos do país.
Enquanto descarregávamos o avião (não há carregadores ou funcionários aqui) e nos instalávamos nas cabanas quentes, conversei com Pierre Philie, um geógrafo cultural francês com forte interesse em antropologia, morador de Kangiqsujuaq (o assentamento mais ao norte de Nunavik, e porta de entrada para esta maravilha geográfica).
Ele foi enviado a contragosto para esta parte de Quebec há 40 anos, mas não só se apaixonou por ela como por uma mulher local, e nunca mais saiu.
Philie me mostrou uma cópia de uma fotografia aérea em preto e branco de Pingualuit. Foi tirada em 20 de junho de 1943 por um dos oficiais da Força Aérea do Exército dos EUA que a avistou.
Enquanto eu me perguntava o que o oficial devia ter feito com isso naquela época, Philie começou a me explicar um pouco mais sobre a cratera.
“Ela foi descoberta pela primeira vez por alguém do mundo ocidental naquele ano, durante a Segunda Guerra Mundial, quando pilotos de caça a avistaram e a usaram como auxílio à navegação. Mas eles só compartilharam com o resto do mundo quando a guerra acabou”, afirmou.
Quando fizeram isso, em 1950, uma das primeiras pessoas a ficarem fascinadas por ela foi um garimpeiro de Ontário chamado Fred W Chubb. Ele estava convencido de que a cratera foi causada por um vulcão, o que provavelmente significaria que havia diamantes dentro dela.
Ele pediu o conselho do então diretor do Museu de Ontário, Dr Meen, que, igualmente encantado pela ideia, viajou para lá com Chubb para investigar (por isso, por um curto período de tempo Pingualuit foi conhecida como Cratera Chubb) — mas a teoria do vulcão acabou sendo descartada.
“Agora sabemos, sem sombra de dúvida, que é uma cratera de meteoro”, afirmou Philie, quando o Sol começou a se pôr sobre o Lago Manarsulik, localizado a cerca de 2,5 km de Pingualuit, deixando a borda da cratera tão fraca quanto uma marca d’água no deslumbrante horizonte rosa.
“Amanhã vamos vê-la.”
O dia seguinte começou ao nascer do Sol com um passeio entre grandes fragmentos rochosos.
Alguns, explicou Philie, eram grandes pedaços de granito e substrato rochoso fraturado (relíquias da glaciação durante a última Era do Gelo); outros eram exemplos de impactitos, formados como resultado do derretimento durante o impacto.
Estes últimos eram pretos e cobertos com pequenos buracos, evidência de quando os minerais dentro se liquefaziam e borbulhavam com o calor e a pressão da colisão.

“O impacto aconteceu há 1,4 milhão de anos”, confirmou Philie, enquanto subíamos sua borda.
“Olhando para a largura e profundidade da cratera [cerca de 400m], seu impacto é estimado em 8,5 mil vezes mais forte do que a bomba atômica lançada em Hiroshima.”
Esse fato era notável.
‘Olho de cristal’
Mas, finalmente, chegar à beira de Pingualuit e olhar para dentro daquele buraco escancarado, em que o lago brilhava com o gelo que incrustava dois terços dele — apesar de ser julho — foi ainda mais surpreendente.
“É claro que os inuits sabiam (da cratera) antes dos ocidentais chegarem para procurar diamantes”, observa Markusie Qisiiq, diretor e guia do Parque Pingualuit.
“Eles a chamavam de Olho de Cristal de Nunavik.”
De onde eu estava, sob um céu incrivelmente azul pontilhado por tantas nuvens quanto “manchas” na tundra, este nome parecia ser o mais apropriado de todos.
À medida que caminhávamos pelo terreno acidentado, circundando o lago, Philie ficava cada vez mais entusiasmado.
Ele falou sobre a clareza da água no seu interior —alimentada apenas pela chuva e considerada a segunda água mais pura do mundo (somente o Lago Mashu, no Japão, é mais transparente); sobre o mistério dos peixes que vivem dentro dele — que os cientistas ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre como chegaram lá, pois não há fluxos de água entrando ou saindo, e que se voltaram para o canibalismo para garantir sua própria sobrevivência; e sobre evidências que mostram que, assim como os inuits, outro povo também andou por aqui pelo menos 1.000 anos antes deles.
“A paisagem é um livro vivo”, concluiu. “Há muita coisa que podemos aprender se dedicarmos um tempo para lê-lo.”
Nos últimos anos, as pessoas têm vindo para cá fazer exatamente isso.
Em 2007, uma equipe de pesquisadores da Laval University, em Quebec, liderada pelo professor Reinhard Pienitz, fez uma visita durante o inverno para coletar amostras debaixo d’água.
Pienitz descreveu a cratera, na ocasião, como uma “cápsula do tempo científica” e que, embora continuemos aprendendo sobre ela, pode revelar pistas sobre episódios passados de mudanças climáticas e como os ecossistemas se adaptaram sob pressão.
Caminhei até a beira da água, onde Philie pegou uma pedra e a jogou na superfície congelada.
O ar silencioso foi imediatamente preenchido com um som melodioso quando estilhaços de gelo ricochetearam uns contra os outros e caíram na água.
Depois de enchermos nossas garrafas para provar esta água pura, voltamos para o acampamento. Só paramos uma vez, para deixar um imponente rebanho de renas passar — eram tantas que nem dava para contar.
Enquanto assistia a este espetáculo de vida selvagem migrar ao lado de uma cratera tão grande quanto uma encontrada na Lua, meu estômago embrulhou mais uma vez.
Mas, desta vez, não foi por causa de um pouso turbulento.
Mas, sim, pela percepção de que, embora não haja diamantes aqui, há uma riqueza de histórias e revelações científicas à espera de serem descobertas, a meros metros abaixo da superfície.
Fonte: G1